![]()
O garimpo ilegal e o genocídio yanomami
UF: RR
Município Atingido: Amajari (RR)
Outros Municípios: Alto Alegre (RR), Barcelos (AM), Caracaraí (RR), Iracema (RR), Mucajaí (RR), Santa Isabel do Rio Negro (AM), São Gabriel da Cachoeira (AM)
População: Povos indígenas
Atividades Geradoras do Conflito: Atuação de entidades governamentais, Atuação do Judiciário e/ou do Ministério Público, Barragens e hidrelétricas, Hidrovias, rodovias, ferrovias, complexos/terminais portuários e aeroportos, Madeireiras, Mineração, garimpo e siderurgia, Monoculturas, Pecuária
Impactos Socioambientais: Alteração no regime tradicional de uso e ocupação do território, Assoreamento de recurso hídrico, Contaminação ou intoxicação por substâncias nocivas, Desmatamento e/ou queimada, Erosão do solo, Falta / irregularidade na autorização ou licenciamento ambiental, Falta / irregularidade na demarcação de território tradicional, Falta de saneamento básico, Incêndios e/ou queimadas, Invasão / dano a área protegida ou unidade de conservação, Poluição atmosférica, Poluição de recurso hídrico, Poluição do solo, Poluição sonora
Danos à Saúde: Alcoolismo, Desnutrição, Doenças não transmissíveis ou crônicas, Doenças transmissíveis, Falta de atendimento médico, Insegurança alimentar, Piora na qualidade de vida, Violência – ameaça, Violência – assassinato, Violência – coação física, Violência – lesão corporal, Violência psicológica
Síntese
O povo Yanomami constitui um dos povos indígenas de recente contato mais populosos da América do Sul, de acordo com a Survival Internacional e com o Instituto Socioambiental (ISA). Segundo dados da Fundação Nacional dos Povos Indígenas (Funai), a Terra Indígena Yanomami (TIY) tem área de 9.664.975,4800 hectares (ha) e sua população distribui-se entre os estados de Roraima (RR) e Amazonas (AM).
Em Roraima, áreas dos municípios de Amajari, Alto Alegre, Mucajaí, Caracaraí e Iracema compõem a TIY. Já no Amazonas, a TI abrange Barcelos, Santa Isabel do Rio Negro e São Gabriel da Cachoeira.
Os povos Yanomami, entretanto, não obedecem à lógica das fronteiras internacionais entre Brasil e Venezuela, já que foram atravessados por elas de forma arbitrária, encontrando-se também em extensões territoriais do país vizinho. Na Venezuela, o território do povo Yanomami abrange a Reserva da Biosfera Alto Orinoco-Casiquiare.
A mais remota notícia sobre os Yanomami data de 1787, como relata o historiador Pedro Agostinho em “A questão Yanomami: Dois Caminhos para a Política Indigenista (1981)”. Ali, ele caracteriza a ocupação da Terra Indígena como imemorial, ao abrigo do art. 198 da Constituição de 1967, que resguarda para os índios seu exclusivo usufruto.
Já a Constituição Federal de 1988, em seu artigo 231, parágrafo 2°, diz: “As terras tradicionalmente ocupadas pelos índios destinam-se a sua posse permanente, cabendo-lhes o usufruto exclusivo das riquezas do solo, dos rios e dos lagos nelas existentes”.
Bruce Albert e Gale Gomez, em “Saúde Yanomami, um manual etnolinguístico” (1997), afirmam que, na tradição oral Yanomami e nos documentos mais antigos que mencionam esse grupo, o centro histórico do seu habitat situa-se na Serra Parima, divisor de águas entre o alto Orinoco (Venezuela) e o alto Parima (Roraima).
O movimento de dispersão do povoamento Yanomami a partir da Serra Parima em direção às terras baixas circunvizinhas começou, provavelmente, na primeira metade do século XIX, após a penetração colonial no alto Orinoco e nos rios Negro e Branco, na segunda metade do século XVIII.
A configuração contemporânea do território Yanomami tem sua origem nesse antigo movimento migratório. A expansão geográfica foi possibilitada, a partir do século XIX e até o começo do século XX, por um grande crescimento demográfico, entre 1% e 3% anuais.
Na segunda metade do século XX, entretanto, diversas invasões ao território indígena por garimpeiros, agentes do Exército Brasileiro, pessoas envolvidas na construção de obras de desenvolvimento – como a rodovia Perimetral Norte BR-210 – e empresas mineradoras interessadas na exploração do ouro e cassiterita descobertos na região pelo Projeto Radar da Amazônia (Radam), em 1975, promoveram grave diminuição demográfica da população dos Yanomami.
Ademais, também na época da Ditadura Militar, diversas doenças como malária, sarampo, doenças sexualmente transmissíveis (DSTs), coqueluche e desnutrição dizimaram o povo Yanomami em várias aldeias entre 1970 e 1980, principalmente. O relatório da Comissão Nacional da Verdade (CNV), lançado em 10 de dezembro de 2014, também denuncia como o Estado brasileiro foi responsável pela violência nos territórios indígenas.
Em 1993, os Yanomami foram vítimas de um massacre que ficou conhecido na justiça brasileira como o primeiro caso de genocídio a ser oficialmente reconhecido no País, o “massacre de Haximu”, que vitimou 16 indígenas em decorrência de conflitos com garimpeiros ilegais invasores de suas terras.
Entre as décadas de 2000 e 2010, os Yanomami foram se fortalecendo por meio de diversos encontros locais e regionais, como participações na Organização das Nações Unidas (ONU), em Genebra, para denunciar a continuidade dos projetos desenvolvimentistas em seu território. O xamã e ativista Davi Kopenawa Yanomami e seu filho, Dário Vitório Kopenawa Yanomami, tornaram-se porta-vozes desse povo desde a criação da Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY), na década de 1980, e da Hutukara Associação Yanomami (HAY), em novembro de 1994.
A maior ameaça relacionada à mineração e ao garimpo em terras Yanomami, no entanto, reflete-se também a partir de projetos de lei e decisões governamentais. Como exemplos, temos a atuação do então senador Romero Jucá, que atuou como presidente da Fundação Nacional do Índio (Funai) de maio de 1986 a setembro de 1988 e, após dez anos, já como deputado federal, propôs o Projeto de Lei 1610/1996, que dispõe sobre a exploração e o aproveitamento de recursos minerais em terras indígenas.
Ainda durante a campanha e no período em que esteve como presidente da República, Jair Bolsonaro anunciou publicamente uma proposta de abertura das terras indígenas para exploração da mineração, mas principalmente do garimpo; o que fica evidente a partir do Projeto de Lei 191/2021, entregue ao Congresso Nacional em fevereiro de 2021, com o intuito de legalizar o garimpo e a instalação de outros empreendimentos em TIs.
Não apenas as políticas, mas os discursos explícitos do então presidente Bolsonaro, têm incentivado a invasão ao território Yanomami, acirrando os conflitos entre indígenas e garimpeiros, que têm como resultados mais imediatos ataques, ameaças e mortes, mas, a longo prazo, também geram outros problemas, como conflitos internos, contaminação do território e das pessoas, dificuldade de acesso a direitos sociais e desnutrição severa.
Em novembro de 2020, Bolsonaro afirmou que a TI Yanomami não deveria existir, segundo noticiado pelo Brasil de Fato (2022): “A reserva Yanomami. Tem mais ou menos 10 mil índios. O tamanho é duas vezes o Estado do Rio de Janeiro. Justifica isso? Lá é uma das terras com o subsolo mais rico do mundo. Ninguém vai demarcar terra com subsolo pobre. Agora o que o mundo vê na Amazônia, floresta? Está de olho no que está debaixo da terra“.
Em maio de 2021, Bolsonaro visitou a TI Yanomami, disse que respeitava a decisão dos indígenas contra o garimpo, mas frisou que trabalhava para aprovar a mineração em terras indígenas porque, segundo ele, essa é uma demanda “dos índios”, sem especificar a que grupos se referia (BRASIL DE FATO, 2022).
Somam-se a isso os impactos sociais e ambientais irreversíveis dentro do território Yanomami, como o aumento de casos de prostituição, assédio e estupros contra as mulheres indígenas, consumo de álcool, falta de investimentos na saúde indígena ou de fiscalização de crimes ambientais.
É o caso, por exemplo, do que vem ocorrendo no rio Uraricoera, principal via de acesso dos invasores nas terras indígenas e caminho de logística da exploração ilegal e descontrolada de ouro. Em âmbito estadual, o garimpo também tem a chancela do governador reeleito de Roraima (2022), Antonio Denarium (Progressistas), responsável pela Lei Estadual n° 1453/2021, que visa autorizar a exploração de minérios sem necessidade de elaboração de estudos prévios.
Como se não bastasse, além da endemia da malária, que assola os Yanomami há algumas décadas, a covid-19, doença tornada pandêmica, também adentrou os territórios Yanomami, gerando mais de 30 vítimas fatais até o final de 2020, dentre crianças, jovens e adultos.
A falta de assistência à saúde indígena e o descaso do governo federal e das instituições públicas em elaborarem soluções para o controle do coronavírus no território, acompanhados da intrusão de cerca de 20 mil garimpeiros que invadiram as terras yanomami, acentuam dia a dia a vulnerabilização deste povo às doenças.
Relatório produzido pela Hutukara Associação Yanomami (HAY) revelou uma série de dados impactantes: em setembro de 2021, a área de floresta destruída pelo garimpo ilegal na TI Yanomami superou a marca de 3 mil hectares, um aumento de 44% em relação a dezembro de 2020.
Somente na região do Parima, onde está localizada a comunidade de Macuxi Yano e uma das mais afetadas pela atividade ilegal, foi atingido um total de 118,96 hectares de floresta degradada, um aumento de 53% sobre dezembro de 2020. Além das regiões já altamente impactadas, como Waikás, Aracaçá, e Kayanau, o garimpo avança sobre novas regiões; em Xitei e Homoxi, a atividade teve um aumento de 1.000% entre dezembro de 2020 e setembro de 2021 (AMAZÔNIA REAL, 2022).
Segundo o Ministério Público Federal (MPF), entre agosto de 2020 e fevereiro de 2022, foram registrados 3.059 alertas de novos pontos de extração mineral na região que compreende a Terra Indígena Yanomami, afetando uma área de 10,86 km². Apenas em janeiro de 2022, foram 216 alertas de garimpo.
Cálculos revelados pelo relatório da HAY apontam que o garimpo ilegal na TI Yanomami cresceu 3.350% entre 2016 e 2021, estando associado ao aumento da malária, da desnutrição infantil, contaminação humana e ambiental por mercúrio e aumento da exploração sexual. São cerca de 16 mil indígenas presentes em 273 comunidades – o equivalente a 56% da população total yanomami. Em sua totalidade, o território Yanomami tem atualmente 29 mil habitantes distribuídos em 350 aldeias.
Em abril de 2022, mais um caso emblemático da crise humanitária e civilizatória dentro da TI Yanomami foi o estupro seguido de morte de uma indígena de 12 anos, na Aldeia Araçacá, e o assassinato de uma criança de três anos, no mesmo episódio.
As crianças e jovens têm sido as maiores vítimas das violências vivenciadas pelos Yanomami, atualizando o colonialismo que persiste na Amazônia e em outros territórios indígenas no Brasil, já que diariamente os garimpeiros ilegais promovem o extermínio povo.
Diante da crise humanitária na TI Yanomami, em maio de 2022, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) solicitou à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) uma intervenção para propor medidas de proteção do povo . Em julho de 2022, a Corte IDH cobrou do governo federal brasileiro uma resposta sobre as medidas de proteção para o povo Yanomami, considerando que não houve nenhuma reação das autoridades da época.
***
No período entre julho e outubro de 2022, a falta de acesso à saúde na TI Yanomami provocou a morte de nove crianças indígenas. Estudos divulgados pela Fiocruz em agosto de 2022 revelaram que a contaminação de mercúrio em peixes do rio Uraricoera estava acima dos limites de segurança estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS)
No início de 2023, o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas, presidido por Sônia Guajajara, divulgou que cerca de 570 crianças da TI Yanomami foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos do governo de Jair Bolsonaro (IHU, 2023).
Nas redes sociais, Guajajara lamentou as mortes: “É muito triste saber que indígenas, sobretudo 570 crianças yanomamis, morreram de fome durante o último governo” (MENEZES, 2023). O Ministério da Saúde declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) no território indígena Yanomami.
Em 25 de janeiro, a Polícia Federal (PF) determinou abertura de inquérito para apurar crimes de omissão e genocídio do governo Bolsonaro diante da crise humanitária vivida pelo povo Yanomami.
Um mês após o governo federal decretar estado de emergência na TI Yanomami, o Ministério da Saúde (MS) divulgou que mais de cinco mil atendimentos médicos foram realizados na região. Em fevereiro de 2023, organizações , entre elas, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam-Brasil), participaram da 52º sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU (CDH 52) e denunciaram as violações de direitos dos povos indígenas no Brasil.
Contexto Ampliado
Dados da Fundação Nacional do Índio (atualmente, Fundação Nacional dos Povos Indígenas -Funai) de 1991 estimavam que cerca de 9.900 indígenas viviam na Terra Indígena Yanomami. Segundo levantamento mais recente da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), em 2019 esse número já havia aumentado para 26.780 pessoas. Ou seja, houve um aumento populacional de quase 170% em aproximadamente três décadas.
Pereira da Silva (2015) aponta que os grandes projetos de ocupação da região Amazônica, especificamente a sudeste da Terra Indígena Yanomami, região do Ajarani (município de Caracaraí), se intensificaram a partir da década de 1960 com a intrusão de atividades extrativistas (castanha, peixes, peles etc.) e a chegada mais intensiva de missionários (católicos e protestantes).
A rodovia Perimetral Norte foi uma obra do Plano de Integração Nacional (PIN), no período desenvolvimentista do regime militar, atravessando a Amazônia brasileira desde o Amapá até a fronteira colombiana no Estado do Amazonas. Em fevereiro de 1972, uma das principais preocupações, antes mesmo do início das obras da rodovia, era a presença dos indígenas ao longo do traçado do que viria a ser a BR-210.
O Estado de São Paulo, em 22 de fevereiro de 1973, com a manchete “20 mil índios na Perimetral”, divulgou que a Coordenação Regional da Funai em Manaus reuniria todos os sertanistas da região amazônica para coordenar os trabalhos de atração e pacificação dos indígenas ao longo do traçado da rodovia, identificando, além dos Yanomami, os Tirió e os Marubo.
Essa postura da Funai para com os Yanomami na época foi analisada por Agostinho (1981):
“A Funai optou pela rotineira implantação de Postos Indígenas nas zonas de previsível contacto, apoiadas se possível em vias de fácil acesso. A partir dos Postos far-se-ia a ‘atração’, num antecipar de relações inevitáveis, destinado a estabelecê-las com segmentos da sociedade nacional julgados capazes de lhes atenuar o efeito sobre os índios. Na prática, essa ‘atração’ tem resultado — na BR-210 e na maioria dos pontos onde ocorreu — em aproximar os indígenas da via de penetração, com seus riscos de contágio, exploração e desorganização”.
Em 1973, o Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) publicou os editais de concorrência para a construção da Rodovia Perimetral-Norte, conforme divulgou o jornal O Estado de São Paulo em abril daquele ano. Ainda em 1973, de acordo com o Jornal do Brasil, por conta do fechamento do garimpo no Estado de Rondônia, os garimpeiros partiram em massa para a região da Serra das Surucucus, ao norte de Roraima, onde vivem os Yanomami.
Pereira da Silva (2015) também resgata que, nesse período, a rodovia passou a exercer força de atração indígena e não indígena, principalmente de mulheres Yawaripë (um subgrupo da etnia Yanomami), que acabaram se prostituindo nos acampamentos dos trabalhadores da construtora responsável pela execução do projeto da rodovia.
Sem qualquer preparo, os funcionários da obra entravam em contato com os Yawaripë, transmitindo-lhes doenças como sarampo e catapora, além de doenças venéreas, para as quais os indígenas não possuíam qualquer imunidade, sendo submetidos ao atendimento precário do Posto Indígena improvisado, próximo ao rio Ajarani (SILVA, s/i).
Após 1974, inicia-se uma nova fase de contato interétnico, com ameaças de apropriação de terras indígenas por setores da sociedade nacional, estimulados pelo governo federal. Agostinho (1981) complementa que, ao sul, a BR-210 intensificou o processo, atingindo os povos indígenas das bacias dos rios Ajarani e Catrimani, com reforço do campo de apoio que o levantamento do projeto Radar da Amazônia (Radam) instalou na Missão do Catrimani.
A noroeste, a prospecção de cassiterita na Serra das Surucucus seguiu-se em 1975 de uma frente ilegal de garimpagem, substituída depois pela prospecção oficializada de grandes empresas mineradoras (o autor cita a então estatal Vale do Rio Doce, que, em 2007, após o processo de privatização, passou a se denominar Vale S.A).
A partir de 1975, houve uma aceleração dessa ocupação por meio da implementação de projetos de desenvolvimento regional – justificados com base no discurso desenvolvimentista e de integração econômica da Amazônia -, com o objetivo de servir aos interesses nacionais e das empresas privadas multinacionais.
Em fevereiro de 1975, o jornal O Estado de São Paulo apresentou a reportagem denominada “Decadentes índios aguardam a Funai”, sobre a situação de fome e doença dos Yanomami, responsabilizando os missionários e o contato, sempre prejudicial, como classifica, com as frentes de penetração.
De acordo com a reportagem: “Na Serra dos Surucucus, onde se descobriu indícios de urânio e o projeto Radam mantém uma base de pesquisas, os índios circulam, sujos, famintos, trocando arcos e flechas por pão mofado e roupas velhas, indispensáveis para enfrentar o frio de até oito graus”.
Em março de 1975, o jornal A Crítica aponta que o interventor de Roraima, coronel Fernando Ramos Pereira, na expectativa de que os minerais também fossem encontrados no Território, acusou os Yanomami pelo atraso no desenvolvimento do então Território Federal: “Sou da opinião que uma área rica como essa não pode se dar ao luxo de conservar meia dúzia de tribos indígenas atravancando o seu desenvolvimento”.
Declarações como essa, colocando povos indígenas e quilombolas como responsáveis pelo atraso do desenvolvimento econômico brasileiro, além de racistas, estão profundamente enraizadas na consciência da sociedade nacional, sendo repetidas reiteradamente na História, inclusive atualmente.
Com isso, sempre que há oportunidade de implementar algum projeto desenvolvimentista, seja em benefício do agronegócio, mineração, barragens, hidrelétricas etc., ele concorre com os direitos dos povos originários. Frequentemente, alguns agentes do Estado e as empresas interessadas têm ido a público para tentar justificar, com base no argumento acima citado, a desumanização (por meio da mídia, sobretudo), o esbulho territorial e até o extermínio desses povos.
Em setembro de 1976, o Jornal do Brasil informou que o então ministro do interior (ministério atualmente extinto), Maurício Rangel Reis determinou, por meio de portaria (não informada pela publicação), que o interventor de Roraima, coronel Fernando Ramos Pereira, adotasse as medidas necessárias à imediata paralisação das atividades de garimpo onde futuramente seria demarcada a TI Yanomami, na região da Serra das Surucucus.
Embora à primeira vista essa ação possa parecer uma política de proteção do território dos povos indígenas envolvidos, na realidade, sinalizava a pretensão do governo federal em legitimar a mineração em grande escala em algumas áreas, como veremos adiante.
Assim, em novembro de 1976, após tentativas de expulsão dos garimpeiros na Serra das Surucucus, segundo o jornal O Estado de São Paulo (OESP), a ameaça aos Yanomami passa a ser a Companhia Vale do Rio Doce (CVRD), autorizada por meio de dois alvarás a realizar inspeções em uma área de 10 mil hectares, por meio de uma reunião entre o então ministro de Minas e Energia, Shigueaki Ukui, e dirigentes da empresa estatal.
Em 1977, a Folha de São Paulo (FSP) divulgou que uma epidemia de sarampo havia matado 68 Yanomami, conforme informado por funcionários da Secretaria de Saúde de Roraima, nas regiões dos rios Catrimani e Almada. Os funcionários ergueram um hospital de emergência nas margens da rodovia BR-210, enviando medicamentos e alimentação para as aldeias atingidas.
A resposta dos Yanomami, segundo a reportagem, contudo, foi a saída das aldeias e o exílio na mata, evitando assim que o alastramento da doença acabasse dizimando sua população:
“Os funcionários da Funai em Boa Vista contam que a doença foi levada até os Yanomami pelos gaiteiros, nome que identifica os caçadores de pele de animais selvagens, que, no começo do inverno ao final de março, infestavam a região de Catrimani e seus afluentes, burlando a vigilância da ação religiosa, da Funai e do Instituto Brasileiro de Desenvolvimento Florestal (IBDF)”.
No ano de 1978 é criada a Comissão Pró-Yanomami (CCPY), originalmente denominada Comissão pela Criação do Parque Yanomami. Trata-se de uma organização não governamental brasileira sem fins lucrativos dedicada à defesa dos direitos territoriais, culturais e civis dos Yanomami.
De acordo com o histórico em seu site, o primeiro objetivo da entidade foi lutar pela demarcação da Terra Indígena Yanomami por meio de uma longa e ampla campanha nacional e internacional. Defendia a importância de uma demarcação em área contínua e, nos anos posteriores, foi obrigada a se posicionar contra as tentativas do Estado de demarcação em áreas descontínuas (ou em ilhas).
Em maio de 1979, de acordo com o OESP, a Funai se posicionou contrariamente à instalação de um garimpo de cassiterita na região da Serra das Surucucus, temendo o acirramento dos contatos conflituosos e da violência dos garimpeiros contra os Yanomami. Na época, segundo a Funai, nessa área viviam 3.600 Yanomami, distribuídos em 76 aldeias.
Segundo o próprio órgão, a reativação do garimpo só poderia ocorrer em condições muito especiais, considerando a presença da equipe da Funai, com a realização de uma campanha de vacinação e um trabalho de conscientização dos garimpeiros.
Em agosto de 1979, Carlos Drummond de Andrade escreve para a FSP um artigo com o título “Não deixe acabar com os Yanomami”:
“Os Yanomami correm no momento um grande risco e estão precisando de você. Não é necessário voar até lá para ajudá-los. Basta primeiro que você tome conhecimento da existência deles. Do modo de viver que lhes é peculiar. E da situação que enfrentam, sem garantias e sem possibilidade de autodefesa. De posse destes dados cabe a você interessar-se pelo projeto de um grupo de antropólogos, juristas, mestres e jornalistas, que visa proteger a vida pacífica dos yanomami nos locais que habitam dentro do tipo de cultura que é tradicionalmente o deles.
Este projeto ou anteprojeto é obra séria de particulares, foi encaminhado ao Ministro do Interior Mário Andreazza no último 28 de julho. Precedendo de rigoroso estudo científico do problema, propõe ele a criação do Parque Indígena Yanomami e área comum ao Território de Roraima e do Estado do Amazonas onde vivem estes brasileiros.
Esta é a única maneira de salvar a comunidade social e cultural destes homens, mulheres e crianças que desde 1974 vem sofrendo as consequências do processo de expansão econômica da Amazônia em sua parte negativa, sem se beneficiar com suas possíveis vantagens.
A abertura da perimetral Norte, BR 210, sem os necessários cuidados de saúde, levou àquela região gripe, sarampo, tuberculose, moléstia de pele e doenças venéreas.
Nos primeiros cem quilômetros do trecho Caracaraí-Içana, 13 aldeias indígenas mapeadas em 1970 e registradas em 1972, por levantamento aero fotográfico do projeto RADAM Brasil, reduziram-se a 8 míseros grupinhos de doentes à beira da estrada, segundo levantamento da Funai em 1977. Missionários em atividade atenderam 4.596 enfermos durante 38 meses antes da chegada dos primeiros trabalhadores da Estrada. Em igual período, após o avanço da rodovia, o número subiu a 18.488. Em três anos, as infecções virais multiplicaram-se por 8.
O garimpo irrompeu como outra modalidade de doença subtraindo dos Yanomami mais de 150 toneladas de cassiterita. Os índios reagiram, houve conflitos e as autoridades fizeram recuar os garimpos, interrompendo-se as obras da perimetral Norte. De tudo isso resultou o saldo da morte de várias pessoas.
Em 1979, a Companhia Vale do Rio Doce, que devia ficar quieta em Itabira, Minas Gerais, cuidando de seus interesses locais, se apressa para explorar a cassiterita antes explorada ilegalmente pelos garimpeiros. Anuncia-se a próxima chegada de 300 funcionários da empresa sem que se cogite a vacinação prévia dos 3.800 Yanomami. E a perimetral Norte vai prosseguir, fornecendo do espaço à colonização. Topógrafos percorrem o território Yanomami, demarcando lotes em terras insofismavelmente, pertencentes aos índios.”
Em 1980, a Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima) fez um requerimento de 20 mil hectares na comunidade de Santa Rosa, no município de Amajari, para exploração de ouro. Em consequência, em fins do mesmo ano, milhares de homens alcançavam o garimpo de Santa Rosa, entrando clandestinamente na região pelos rios, ocasionalmente utilizando aviões.
Em março de 1980, segundo reportagem de Carlos Lupi para a Folha de São Paulo, o governo brasileiro começaria a ser oficialmente notificado por governos com representatividade na Organização das Nações Unidas (ONU) para pôr fim à política genocida que mantinha contra as nações indígenas brasileiras há vários anos.
O antropólogo norueguês Kaige Kleivan, assessor do Conselho Mundial dos Povos Indígenas, reconhecido pela ONU, deu entrevista à reportagem, e avaliou a questão do genocídio indígena no Brasil da seguinte forma:
“O governo brasileiro pode começar a se preparar porque as pressões que vai receber para pôr fim à terrível e absurda situação das nações indígenas no Brasil e aos crimes de que são vítimas, com o aval das autoridades, vão ganhar força internacional. E o governo não poderá sequer retrucar nos organismos internacionais que esta política genocida é uma questão interna brasileira. Tais crimes, que vêm ocorrendo há vários anos, impunemente, tornaram-se agora uma questão internacional. Ninguém no mundo, nenhum país do mundo que tenha o mínimo de respeito aos direitos humanos, aceitará a argumentação de que a questão do índio brasileiro é questão interna neste país”.
Essa questão interna, avaliou Kleivan na reportagem, é típica da forma como os países latino-americanos então trabalhavam com a questão indígena: como uma justificativa para massacres. Sobre a nação Yanomami, o antropólogo afirmava que eles:
“…vêm sendo escorraçados com o aval do governo brasileiro, há vários anos, tendo suas terras ocupadas ilegalmente, com inúmeros índios assassinados impunemente. Uma situação que vem desde 1974, quando o massacre dos índios desta nação se tornou mais evidente, principalmente do ponto de vista médico-clínico. O contato feito com estes índios no Brasil é criminoso e é uma forma de massacrá-los. Os Yanomami têm sido virtualmente exterminados nos contatos mantidos pela Funai, no Brasil. Neste sentido, tenho acusações sérias à Funai. O Brasil tem os mais famosos especialistas em prevenção de doenças tropicais no mundo.
Alguns destes especialistas médicos revelaram à Funai, há mais de 6 anos, que, se o órgão continuasse com sua absurda política de aproximação com os Yanomami, uma epidemia de sarampo poderia dizimar em dois meses apenas a metade da população Yanomami. Os índios desta nação, apesar dos avisos médicos à Funai, já sofreram epidemias desta doença, uma em 1974 e outra em 76 e, nestas epidemias, morreram mais de dois mil índios. A doença foi levada à nação indígena na abertura da Perimetral Norte, o governo nada fez para evitar esta chacina abominável, inconcebível com qualquer posição democrática. Enquanto o governo brasileiro estiver fazendo e promovendo massacres deste tipo contra os povos índios do Brasil, não pode se dizer aberto politicamente, e não pode se considerar democrata. Isso é vergonhoso pro Brasil”.
No mês de julho de 1980, o Jornal da Tarde expôs a ameaça da cegueira sobre a população indígena do Norte do País, quando o Diário Oficial da União publicou que havia uma autorização do Ministério de Minas e Energia para que as empresas Tapajós e Guaíba realizassem a prospecção de titânio em áreas do então território federal de Roraima. Esta publicação, porém, passou despercebida pelo público por quase dois meses.
Foi apenas durante o 32° Congresso Brasileiro pelo Progresso da Ciência que os antropólogos denunciaram essa ameaça. A questão preocupante para os antropólogos e servidores envolvidos na proteção dos Yanomami era que essa área, localizada na Serra de Couto de Magalhães, iria ocupar o centro do projeto para criação do Parque Indígena Yanomami.
Embora essas duas áreas liberadas estivessem fora da área indígena até então reconhecida pela Funai, a área de prospecção da Tapajós, uma subsidiária da Construtora Paranapanema, ficava a apenas 10km das primeiras aldeias da região. A empresa Guariba, subsidiária da construtora Andrade Gutierrez, por sua vez, ficava a 30km, perto da Serra das Surucucus, onde viviam cerca de 4 mil Yanomami, sem contato e nunca imunizados.
Portanto, um verdadeiro desastre, conforme considerou a fotógrafa Claudia Andujar à reportagem. Os participantes daquele congresso também denunciaram a paralisação do projeto de criação do Parque Indígena Yanomami.
Foto 1 – Papiú, Roraima, 1983. Foto: Cláudia Andujar. Disponível em: https://bit.ly/3iiHGSK. Acesso em: 02 de jun.2021.
Em reportagem do Estado de Minas, de 30 de julho de 1980, o médico e professor titular do curso de Oftalmologia da Faculdade de Medicina de Jundiaí (FMJ), Rubens Belfort Matos Júnior, denunciou, no V Congresso Brasileiro de Prevenção da Cegueira, a situação gravíssima dos indígenas Yanomami, muitos dos quais atingidos por oncocercose, doença parasitária transmitida pelo mosquito do gênero simulium, uma variação do borrachudo e produzida pelo nematódeo Onchocerca volvulus, que se instala no tecido subcutâneo (abaixo da pele) das pessoas atingidas (saiba mais sobre a doença aqui).
Essa doença é considerada uma das cinco maiores causas de cegueira em todo o mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS). Segundo o especialista, 50% da população Yanomami pesquisada fora acometida por esse tipo de infecção nas córneas. Por essa ameaça, o professor alertou o governo brasileiro para que não abrisse a região para a colonização.
“Infelizmente ainda não existe uma política baseada no controle das doenças tropicais no Brasil. Aqui, as pesquisas variam de ministro para ministro, as coisas, os programas mudam como o vento, e, quando existir um plano, talvez os Yanomami não existam mais. Mais uma vez, a solução para isso, como alertado, foi a necessidade da criação do parque nacional Yanomami. A África é o continente mais atingido, o que é responsável por graves consequências econômicas, pois há o despovoamento do vale dos rios, as zonas mais férteis dos trópicos, em consequência da cegueira”.
De acordo com matéria publicada pelo jornal O Globo em 16 de abril de 1981, além dessa ameaça à saúde dos Yanomami, eles eram prejudicados territorialmente devido a uma proposta do governo federal de estabelecer reservas descontínuas para a etnia. Segundo o Conselho Indigenista Missionário (Cimi):
“A criação de reservas descontínuas para os índios Yanomami contradiz inteiramente as declarações do Ministro do Interior, Mário Andreazza, do presidente da Funai, o coronel Nobre da Veiga, e da presidência da República, que sempre asseguraram a criação de parque de áreas contínuas”, disse Paulo Suess, secretário executivo do Cimi na época.
A informação de que os estudos desenvolvidos pela Funai, CSN [Conselho de Segurança Nacional], Sema [Secretaria Especial do Meio Ambiente, antecessora do Ibama] e IBDF previam a criação de áreas descontínuas foi do secretário geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), Dom Luciano Mendes de Almeida.
Nesse estudo, representantes do governo federal alegavam que a criação de parque contínuo era desaconselhável por supostamente ocasionar problemas de segurança nacional, já que poderia criar dificuldades com a Venezuela, visto que a Serra das Surucucus interpenetra no território nacional venezuelano. Era sugerida, portanto, a criação do parque como conjunto, com a Ilha Yanomami, e guarnição de tropas federais nos corredores, evitando ocupação predatória da zona, entrada indiscriminada de “civilizados” – conforme classificava o CSN na época – e o desequilíbrio do ecossistema.
Nessa proposta para o território Yanomami priorizava-se a ampliação das atividades econômicas ambicionadas pelo Estado, o que incentivaria o povoamento da região. Em reportagem do jornal Estado de São Paulo, de 22 de abril de 1981, a manchete apresentava: “Roraima oferece suas terras de graça”, anunciando para o povo nordestino que quem quisesse transferir-se para o Território de Roraima receberia terras e outros incentivos para a exploração agrícola, inclusive podendo fazer a mudança gratuitamente.
O objetivo do governo federal era promover a expansão da agricultura como atividade econômica e a abertura de mais terras para a mineração, superando um “atraso de 200 anos”, conforme classificava o jornal. Alegava-se que, com a abertura de estradas e o incentivo às atividades econômicas descritas, os problemas entre latifundiários e indígenas estariam resolvidos.
No trecho “o progresso depende da exploração da riqueza mineral”, a reportagem ainda afirma que o desenvolvimento econômico do território de Roraima estava, em parte, condicionado ao cumprimento pela Funai de uma portaria dos Ministérios do Interior e de Minas e Energia definindo o processo pelo qual seriam concedidas permissões às empresas estatais para desenvolver pesquisas e minerações em áreas indígenas.
Em 10 de novembro de 1983, o então presidente João Batista Figueiredo promulgou o Decreto n º 88.985, abrindo as terras indígenas à mineração. De acordo com Rocha (1994), apoiado em informações veiculadas nos meios de comunicação na década de 1980, as pressões contra os Yanomami aumentaram, embora com variações de táticas por parte dos setores envolvidos.
O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) previu o aumento no número de conflitos caso a Funai viesse realmente a celebrar o convênio com a Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima) para que esta pudesse explorar o território, rico em cassiterita, um mineral do qual se extrai principalmente o estanho.
Também nesse mês, o Jornal do Brasil publicou que cinco indígenas Yanomami e um garimpeiro morreram em confronto em Cachoeira da Estrada, em consequência de disputas por terras, conforme denunciado pelo Conselho Indigenista Missionário (Cimi). Eram Yanomami do subgrupo Moxihatëtëmathëpë, das áreas situadas entre os rios Catrimani e Apiaú. Em reação, os Yanomami mataram o garimpeiro.
Em dezembro de 1984 começa um novo surto de um vírus até então desconhecido, mas que causou a morte de vários Yanomami na Serra das Surucucus, de acordo com o Diário do Grande ABC. Em janeiro de 1985, o então presidente da Funai, Nelson Marabuto, demitiu o chefe da 10ª Delegacia Regional do órgão, então responsável pela atenção à saúde indígena, situada em Boa Vista/RR, por ele não ter comunicado à direção da Funai a morte das pessoas vítimas da epidemia.
Segundo Marabuto, o delegado, além de tirar férias em meio a um problema grave, o fez sem comunicar os óbitos. Claudia Andujar, uma das fundadoras da Comissão de Criação do Parque Yanomami (CCPY), enviou uma carta para um sertanista (cujo nome não é revelado na fonte) comunicando que a epidemia já matara 10 pessoas, provocando a procura de mais de 300 indígenas ao posto médico local.
Nessa epidemia, os sintomas eram dores de cabeça, dores no corpo e febre. De acordo com Claudia Andujar, suspeitava-se de que a epidemia fora causada por garimpeiros invasores do território indígena.
O dossiê da CCPY de 1985 expõe que seus integrantes empreenderam esforços para defender a criação do Parque Yanomami diante dos representantes da chamada “Nova República”, que estava para se instalar no País com a perspectiva de redemocratização e fim do regime militar. Nesse período, as agressões à área Yanomami tornaram-se tão violentas que a CCPY se viu compelida a lutar contra os garimpos clandestinos que se instalaram na área, a nível nacional e internacional.
Coalizões com deputados que apoiavam a causa de criação do Parque, como Marcio Santilli, citado no dossiê, além de contatos com o primeiro e segundo escalão do governo de José Sarney (então no Partido da Frente Liberal – PFL-MA), foram as ações necessárias, segundo consta entre a equipe da CCPY, para consolidar a campanha e angariar apoiadores.
No dia 17 de fevereiro de 1985, a Folha de Boa Vista, O Estado de São Paulo, A Crítica e outros jornais divulgaram a invasão de garimpeiros na Serra das Surucucus, equipados com pick-ups para entrar no território pela Estrada Apiaú. Os garimpeiros foram encontrados na fazenda São Luiz, de propriedade da vereadora Maria de Lourdes Pinheiros, e seriam levados para a Serra das Surucucus por cinco aviões.
As polícias Civil e Militar impediram o transporte, surpreendendo a ação antes que pudessem decolar. Os garimpeiros foram mobilizados com panfletos distribuídos na periferia do estado, e que informavam sobre a reabertura de garimpos do Ericó e Santa Rosa, na região das Surucucus.
Para a Comissão de Criação do Parque Yanomami, a invasão da Serra das Surucucus foi um ato de violência contra o povo Yanomami, e havia a ameaça de genocídio indígena caso os garimpeiros não fossem impedidos de atuar naquela área. Além disso, a invasão representava uma desobediência à ordem pública e à Portaria GM025/1982, assinada pelo ministro do interior Mário Andreazza, que interditou a área prevista para a reserva indígena Yanomami.
O relato da CCPY sobre a invasão está reproduzido abaixo:
“Em 1º de fevereiro de [19]85, fundou-se a Associação dos Faiscadores e Garimpeiros do Território Federal de RR, com 824 membros, e no dia 12 foi eleita a Diretoria, com José Altino na Vice-presidência da Associação. O momento também serviu para acertar os detalhes da ocupação imediata de Surucucus.
No dia 14, foi deflagrada a operação; o país entrava na folia carnavalesca. A investida começou com a chegada de 5 aviões no período de duas horas, trazendo 60 dos 3.000 garimpeiros previstos para a tomada da Serra. Dos 60 homens embarcados na fazenda da vereadora Lourdes Pinheiro, ex-presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, três portavam uniformes de combate e armas automáticas e tinham treinamento em aviões de combate paramilitares (Porantim, março/1985).
José Altino liderava a operação com o apoio de um ‘alto comando’ em Brasília e de elementos do governo do Amazonas e do próprio Território de Roraima. A CCPY aciona as instituições de apoio para alertar o Ministério da Justiça, em Brasília, no sentido de tomar as medidas cabíveis para conter os invasores.
No dia 19, a Funai retira-os da área, com o auxílio do governador de Roraima e das polícias Militar e Federal. José Altino é preso em flagrante, mas enfrenta processo em liberdade. Em suas declarações à imprensa local, o líder garante que no próximo verão os garimpeiros estarão lá em cima na Serra”.
Em 21 de fevereiro de 1985, o jornal O liberal noticiou que a Polícia Militar realizou a retirada dos 60 garimpeiros na região; a Polícia Federal, por sua vez, ouviu sobre os mandantes da invasão, especialmente os pilotos contratados para fazer o transporte dos garimpeiros até a Serra das Surucucus. A partir dos depoimentos, os policiais estabeleceram que o organizador da invasão fora o fazendeiro José Altino Machado.
Em 29 de março de 1985, a Folha de Boa Vista divulga que a tuberculose vinha matando os Yanomami com a reabertura da pista de pouso de Boas Novas. A reportagem informava que a mão de obra Yanomami estava sendo utilizada no garimpo. Falando apenas rudimentos do português, no entanto, eram constantemente enganados na hora das trocas.
A maioria dos garimpeiros, indígenas e não indígenas, era informal e empregava as próprias famílias na exploração mineral ou no cultivo de suas roças. O ouro era comercializado nas cantinas de Santa Rosa, ou no posto que a Funai mantinha na área. O dinheiro raramente entrava nas transações, já que era trocado por artigos diversos, como combustível, vestuário, ferramentas e até remédios.
Em maio de 1985, o ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, Nelson Ribeiro, recebeu em Brasília um Dossiê da CCPY em que a entidade defendia a criação do Parque Indígena Yanomami. Segundo Claudia Andujar, a criação do parque indígena expandiria também a área do Parque Nacional do Pico da Neblina.
Cabe ressaltar que Claudia Andujar é reconhecida internacionalmente por seu trabalho de fotojornalista. Nascida na Suíça, Andujar é sobrevivente do Holocausto, quando parte de sua família foi assassinada nos campos de concentração de Auschwitz e Dachau. Residente no Brasil desde a década de 1950, a observação do modo de vida, das tradições e lutas dos yanomani tem sido o fio condutor de sua carreira.
Participou do grupo em defesa da criação da reserva yanomami, a Comissão Pró-Yanomami, e coordenou a campanha pela demarcação das terras indígenas. Na visão de Thyago Nogueira, curador de uma exposição com cerca de 300 obras do seu acervo, exibida no Instituto Moreira Salles (2018-2020), os anos de dedicação de Andujar ao seu trabalho fizeram com que seu interesse jornalístico se transformasse em “interpretação radicalmente original da cultura (yanomami)” (BBC NEWS BRASIL, 2023).
Ainda naquele ano, o governo federal lança o Programa Calha Norte (PCN), criado pelas Forças Armadas para a Região Norte do Brasil, e que previa a ocupação militar de uma faixa do território nacional situada ao norte das calhas dos rios Solimões e Amazonas. A Secretária-geral do Conselho de Segurança Nacional elenca uma série de medidas, julgadas necessárias pelo governo de José Sarney, para sua implantação.
Dentre elas, destaca-se a “definição de uma política indigenista apropriada à região, tendo em vista a faixa de fronteira”. De acordo com a página do PCN no site do Ministério da Defesa, “o PCN engloba 85% da população indígena brasileira em uma área que corresponde a 99% da extensão das terras indígenas”.
Nas seis regiões selecionadas para ações imediatas na faixa de fronteira, inclui-se a “área dos índios Yanomami”. De acordo com o Cimi e a Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB), em 1986, a sociedade brasileira tomou conhecimento desse programa.
Em março de 1986, a Folha de São Paulo divulga o primeiro encontro de caciques Yanomami, reunindo tuxauas (chefes indígenas) e representantes de 14 unidades Yanomami de Roraima e Amazonas. O encontro deu-se no Posto Indígena Demini, no km 211 da Rodovia Perimetral Norte (Amazônia), no sopé da Serra dos Ventos – região chamada de Watoriktheri pelos Yanomami.
De acordo com o senador Severo Gomes – um dos convidados especiais segundo o Boletim Urihi nº 04 –, na reunião tratou-se da criação do parque e da violência dos garimpeiros, que estariam sistematicamente invadindo o território.
A Folha de São Paulo, em 31 de dezembro de 1986, publica que uma das intenções do Exército para o Projeto Calha Norte era “harmonizar as relações entre as populações”. Em fevereiro de 1988, o governo lança o Plano de Emergência Yanomami, chamado Plano de Emergência Índio-Garimpeiro, que passou a vigorar naquele mês a partir de uma operação conjunta (Funai e Governo de Roraima) que visava bloquear a entrada de novos garimpeiros na área indígena.
De acordo com o jornal A Crítica, para garantir a segurança do local, o governo federal enviou um grupo de policiais e soldados, autorizados pela Funai. O Plano passou a ser executado a partir da assinatura de um convênio entre a Funai e o governo de Roraima, com o objetivo de evitar conflitos.
Na realidade, por meio do Programa Calha Norte – avaliam o Cimi e a CNBB -, o Estado brasileiro criou segurança para investimentos do grande capital na fronteira amazônica, integrando-a economicamente ao resto do País. Com a finalidade de afastar obstáculos a tais empreendimentos impostos pela resistência dos povos indígenas, demarcaram-se porções isoladas de terra para: “1 – concentrar os índios em pequenos núcleos populacionais, submetendo-os a condições de dependência e acarretando consequentemente a perda de sua identidade étnico-cultural; 2 – liberar o restante da terra indígena para a exploração econômica” (CNBB, Cimi, 1988).
Em 1988, os acordos entre governo federal e as empresas mineradoras provocaram mais conflitos nas terras dos Yanomami. Relatório da Comissão Nacional da Verdade aponta o Estado como principal responsável pelo genocídio que se intensifica durante a Ditadura Militar, mas continua mesmo após iniciado o processo de redemocratização do Estado brasileiro.
O relatório cita como exemplo a notícia publicada, em 20 de agosto de 1988, pelo jornal O Liberal, segundo a qual “só empresas poderão minerar na área habitada pelos Yanomami”. De acordo com Romero Jucá, então à frente da Funai, algumas áreas, porém, ficariam liberadas para os garimpeiros.
O documento também acusa o governo de, no dia 18 de novembro de 1988, por meio da portaria interministerial nº 250, reduzir a área Yanomami em 70% e dividir os 30% restantes em 19 áreas descontínuas. Naquela época, a CNBB defendia a reversão do quadro por meio da revogação da referida portaria, e a demarcação em área contínua nos limites pré-estabelecidos pela portaria da Funai 1817, de 18 de janeiro de 1985, numa área de 9 milhões de hectares e 90 mil metros quadrados.
Em 1990, o então jovem xamã Davi Kopenawa Yanomami, ao ser entrevistado por Bruce Albert, falou sobre a epidemia que assolava o território por causa da invasão garimpeira:
“Vou te dizer o que nós pensamos. Nós chamamos estas epidemias de xawara. A xawara que mata os Yanomami. É assim que nós chamamos epidemia. Agora sabemos da origem da xawara. No começo, nós pensávamos que ela se propagava sozinha, sem causa. Agora ela está crescendo muito e se alastrando em toda parte. O que chamamos de xawara, há muito tempo nossos antepassados mantinham isto escondido.
Omamë [o criador da humanidade yanomami e de suas regras culturais] mantinha a xawara escondida. Ele a mantinha escondida e não queria que os Yanomami mexessem com isto. Ele dizia: ‘Não! Não toquem nisso!’ Por isso ele a escondeu nas profundezas da terra. Ele dizia também: ‘Se isso fica na superfície da terra, todos Yanomami vão começar a morrer à toa!’
Tendo falado isso, ele a enterrou bem profundo. Mas hoje os nabëbë, os brancos, depois de terem descoberto nossa floresta, foram tomados por um desejo frenético de tirar esta xawara do fundo da terra, onde Omamë a tinha guardado. Xawara é também o nome do que chamamos booshikë, a substância do metal, que vocês chamam ‘minério’. Disso temos medo. A xawara do minério é inimiga dos Yanomami, de vocês também. Ela quer nos matar.
Assim, se você começa a ficar doente, depois ela mata você. Por causa disso, nós, Yanomami, estamos muitos inquietos. Quando o ouro fica no frio das profundezas da terra, aí tudo está bem. Tudo está realmente bem. Ele não é perigoso. Quando os brancos tiram o ouro da terra, eles o queimam, mexem com ele em cima do fogo como se fosse farinha. Isto faz sair fumaça dele. Assim se cria a xawara, que é esta fumaça do ouro.
Depois, esta xawara wakëxi, esta ‘epidemia-fumaça’, vai se alastrando na floresta, lá onde moram os Yanomami, mas também na terra dos brancos, em todo lugar. É por isso que estamos morrendo. Por causa desta fumaça. Ela se torna fumaça de sarampo. Ela se torna agressiva e quando isso acontece ela acaba com os Yanomami”.
Em 1989, a CCPY resgata acontecimentos do ano anterior, particularmente na sua segunda metade, considerada pela entidade o ponto alto de todos os problemas gerados a partir da invasão das terras Yanomami pelos garimpeiros, seduzidos pelas notícias do novo Eldorado em que foi transformado o território de Roraima.
Alguns dos principais acontecimentos foram: a retirada das missões religiosas, que há anos auxiliavam os indígenas; a realização de uma campanha desencadeada pelo jornal O Estado de São Paulo defendendo a abertura das terras indígenas às mineradoras; e o reconhecimento do próprio presidente da Funai na época, Romero Jucá Filho, da liberação irregular de mais de 400 alvarás de pesquisa mineral em terras indígenas.
O resultado de todos esses processos foi o aprofundamento do genocídio daquele povo. Segundo a Comissão Nacional da Verdade (CNV), entre 1946 e 1988, pelo menos 8.350 indígenas foram mortos – provavelmente o número é muito maior, segundo afirmam seus relatores, pois os dados da época são escassos e muitas vezes foram encobertos politicamente.
O relatório da CNV também revelou que Romero Jucá foi corresponsável pela morte de centenas de Yanomami ao autorizar a entrada de garimpeiros na Terra Indígena enquanto era presidente da Funai, ao mesmo tempo em que retirava as equipes de saúde da área, permitindo que as epidemias de malária e gripe adentrassem no território indígena junto com o garimpo.
Conforme documento divulgado pela CNV, Jarbas Passarinho (1920-2016), então ministro da Justiça, confessou, em 1993, a sua responsabilidade, a do Estado e a de Romero Jucá no genocídio Yanomami. À época, José Sarney era Presidente da República. O relatório da CNV encontra-se disponível em: https://bit.ly/43ir3Lp.
A Terra Indígena Yanomami foi oficialmente demarcada em 15 de novembro de 1991 e homologada em 25 de maio de 1992 pelo então presidente Fernando Collor de Mello. Oficialmente, o Estado garantia a esse povo indígena o direito constitucional de usufruto exclusivo de quase 96.650 quilômetros quadrados contínuos, ou cerca de 9,67 milhões de hectares, localizados na fronteira norte dos Estados de Roraima e Amazonas.
Figura 1 – Mapa da TI Yanomami entre Brasil e Venezuela. Fonte: Instituto Socioambiental (2016). Publicado por IHU (2020). Disponível em: https://bit.ly/3uJcFd2. Acesso em: 01 de junho de 2021.
Em 17 de agosto de 1993, entretanto, os Yanomami sofreram com mais um ato de violência contra seu povo, no que foi conhecido como “Massacre de Haximu”, conforme foi veiculado em notícias publicadas na Folha de São Paulo (“Funai Investiga mortes de Yanomamis em RR”), no jornal A Crítica (“Garimpeiros matam e degolam 19 índios”) e no Jornal do Brasil (“Yanomamis denunciam Massacre”). O massacre foi o único caso de genocídio oficialmente reconhecido pelo judiciário brasileiro.
Segundo a antiga Comissão Pró-Yanomami (CCPY), incorporada ao Instituto Socioambiental (ISA), no início de agosto de 1993, começaram os boatos sobre o massacre dos indígenas. A primeira notícia concreta tratando do caso chegou ao conhecimento das autoridades por meio de um bilhete de uma freira que estava em uma região próxima, datado de 17 de agosto de 1993. No dia seguinte, o genocídio foi notícia na mídia nacional e estrangeira, como no The New York Times.
Os sobreviventes relataram que os garimpeiros atacaram os indígenas pela primeira vez em meados de junho, quando quatro homens adultos foram alvejados. Algum tempo depois, disseram que se vingaram matando dois garimpeiros. Por volta dos dias 22 e 23 de julho, garimpeiros cercaram três lados de uma maloca indígena próxima a uma roça abandonada, onde um grupo de Yanomami ali acampado havia saído para buscar pupunha na parte baixa do rio Haximu.
O grupo foi surpreendido por garimpeiros armados de facão, espingardas e revólveres. Só havia um homem adulto no grupo constituído por crianças e mulheres. Os adultos foram mortos a tiros e mutilados com facão. As crianças foram mortas a golpes de facão na cabeça e no peito. Uma mulher idosa foi morta a pontapés. Os sobreviventes disseram que cremaram 11 corpos, e que o corpo de uma mulher não foi cremado por não ter no local um parente que lhe chorasse a morte. É um hábito yanomami cremar seus mortos.
De acordo com o inquérito policial – conduzido pelo delegado da Polícia Federal (PF), Raimundo Cotrin, e que serviu de base para a denúncia do Ministério Público Federal (MPF) -, o crime de genocídio aconteceu em duas etapas: na primeira, quatro homens foram mortos a tiro, num local dentro da floresta e distante da aldeia, sendo que um corpo não foi encontrado; na segunda, algumas semanas depois, 12 pessoas foram mortas a tiros e mutiladas com facão – sendo um homem adulto, duas idosas, uma mulher, três adolescentes, quatro crianças e um bebê.
Esse segundo grupo já estava fora da aldeia, nos tapiris – choupanas feitas de palha, espécie de residência temporária na qual os Yanomamis se abrigam quando estão andando por dentro da floresta -, o que indicava que estava escondido dentro da mata, temendo novo ataque dos garimpeiros, depois das primeiras quatro mortes.
O massacre de Haximu também foi narrado por Davi Kopenawa Yanomami e Bruce Albert e resgatado no livro “A queda do Céu: Palavras de Um Xamã Yanomami”. Parte do relato compilado nessa obra foi resultado da investigação do crime, também publicado em reportagem da Folha de São Paulo: “Antropólogo revela os detalhes da chacina Yanomami”, em 3 de outubro de 1993.
Outra fonte de informação sobre esse ataque está no dossiê da CCPY: “Haximu, foi genocídio”, de 2001, segundo depoimento dos próprios Yanomami. Anos depois, em 1998, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1) anulou o julgamento. Em sua decisão, o TRF-1 alegou que se tratava também de crime doloso contra a vida, e que cabia, portanto, o julgamento ao Tribunal do Júri. O Ministério Público Federal recorreu da decisão ao Superior Tribunal de Justiça (STJ).
De acordo com Adilson Gomes, especialista em Ciências Criminais, em sua análise publicada no JusBrasil (2016), a decisão do STJ, decorrente de apelação feita contra a decisão dada pelo TRF da 1ª Região, restaurou a sentença condenatória do juiz de Roraima. Ficou assim determinada, com a decisão do órgão, a diferenciação entre o homicídio, enquanto crime doloso contra a vida, e o genocídio, enquanto crime contra uma determinada etnia.
Essa diferenciação é importante na medida em que, sendo o genocídio considerado crime contra a Humanidade, conforme tratado internacional do qual o Brasil é signatário, não pode ser julgado por leigos, ou seja, pelo Tribunal do Júri, composto por pessoas de formação não jurídica.
Entre 1996 e 1997, João Pereira de Morais, Pedro Emiliano Garcia (líder do massacre), Eliézio Monteiro Neri, Juvenal Silva e Francisco Alves Rodrigues (que morreu antes de ser preso) foram condenados pela Justiça Federal de Boa Vista entre 19 e 20 anos de prisão pelo massacre na comunidade do rio Haximu. Além do crime de genocídio, eles também foram condenados por outros delitos, como contrabando, ocultação de cadáver, formação de quadrilha e garimpo ilegal.
A primeira sentença condenou apenas os cinco garimpeiros. Os outros continuaram livres por falta de provas. No total, foram denunciados 24 garimpeiros por participação no massacre, mas apenas os cinco condenados foram plenamente identificados. Em 05 de maio de 2022, a PF prendeu, em Boa Vista (RR), Eliézio Neri, foragido, enquanto estava num supermercado.
Em novembro de 1996, o Congresso Nacional instalou uma comissão parlamentar para discutir o PL 1610/1996, do então senador Romero Jucá (que antes presidira a Funai), o qual permitiria mineração em terras indígenas, e que foi amplamente rejeitado pelos povos indígenas brasileiros e pelos Yanomami, em especial. Segundo reportagem de Elaíze Farias para o jornal A Crítica, o PL original de Romero Jucá tem sido objeto de discussão desde sua apresentação.
Nos anos seguintes, ele recebeu algumas emendas e seu teor foi questionado por organizações indígenas e entidades indigenistas, havendo também pressão por parte de mineradoras e garimpeiros pela sua aprovação, pois ele regulamentaria o parágrafo 3º do artigo 231, da Constituição Federal de 1988, abrindo caminho para o garimpo e a mineração em terras indígenas.
Em dezembro de 1997, a CPPY divulga nota explicitando a magnitude dessa ameaça ao território indígena ao destacar que o governo federal, somente no ano anterior, havia gastado em dois meses R$ 1,7 milhão para retirar 750 garimpeiros da área indígena, na Operação Yanomami. No entanto, o projeto de lei de Romero Jucá, ao estabelecer regras de mineração em terras indígenas, fora aprovado no Senado e estava previsto para ser votado na Câmara dos Deputados.
O presidente da Funai em exercício em 1998, Sulivan Silvestre, ao anunciar, no dia 14 de janeiro, os resultados da Operação Yanomami, disse que essa área não deveria ser atingida pelo projeto de Jucá: “O nível de aculturação dos Yanomami não permite qualquer relacionamento com empresas mineradoras. O parecer da Funai sobre o assunto será contra”, declarou ao jornal O Estado de Minas.
Na mesma notícia, o deputado federal Elton Ronhelt, relator do projeto de Jucá na Câmara e vice-líder do governo na época, disse que a Funai não seria ouvida a respeito. “A anuência para o ingresso das mineradoras será dada pelos Yanomami aculturados que sabem falar o português e que querem a melhoria de suas tribos”, disse na época.
Para a CCPY, o deputado, na verdade, estava dando falsas informações sobre o projeto, pois constava no parágrafo 1º do art. 4º que “o edital será elaborado conjuntamente pelos órgãos federais de gestão dos recursos minerais e de assistência ao índio, com base em parecer técnico conjunto caracterizando a área como apta à mineração, e apoiado em laudo antropológico específico”.
Baseando-se em reportagem do Instituto Socioambiental (ISA) de fevereiro de 1998, a CCPY acrescentava que a possibilidade da Funai emitir um parecer contrário à mineração em determinada área indígena constava também no parágrafo 4º do art. 19, que diz que “os requerimentos prioritários poderão ser sobrestados, desde que a atividade mineral seja considerada prejudicial à comunidade indígena afetada, em laudo antropológico ou relatório de impacto ambiental específico”.
Outra desinformação prestada pelo parlamentar na época seria sobre a anuência dos indígenas. A consulta deveria ser realizada na comunidade afetada pela mineração, e não por um “índio aculturado” que pode estar extremamente distante dessa comunidade.
Além disso, aculturamento é um termo genérico, que encontra respaldo apenas no senso comum e nos discursos que visam legitimar socialmente interesses anti-indígenas, já que – antropologicamente falando – não é possível medir o “grau de aculturamento” de um indivíduo ou comunidade.
Reconhece-se atualmente que as relações interétnicas são dinâmicas e ocorrem em ambas as direções (não há garantias que nessas relações os povos indígenas sempre caminharão para absorver elementos da cultura hegemônica e não o contrário). Esse tipo de discurso se baseia em pré-noções etnocêntricas e evolucionistas que não são mais respaldadas pelo campo antropológico, sendo, portanto, consideradas espúrias para basear políticas públicas de quaisquer tipos.
O ano de 1999 e a década seguinte tiveram como principal temática a discussão sobre as políticas públicas em relação à saúde indígena, crucial para a comunidade Yanomami, uma vez que elas não foram inicialmente contempladas pelo decreto Lei 8080/1990 que criou o Sistema Único de Saúde (SUS), sendo necessária uma emenda do então deputado federal Sérgio Arouca, quase dez anos após a aprovação do SUS, criando o que hoje é conhecido como Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi).
De acordo com a publicação “Lei Arouca, 10 anos de saúde indígena”, entre 1995/1998, o sanitarista e deputado federal Sergio Arouca (que também presidiu a Fundação Oswaldo Cruz entre 1985 e 1989) encaminhou o projeto de lei que veio a ser sancionado em 23 de setembro de 1999 e que, desde então, ficou conhecido como “Lei Arouca” (nº 9.836/99).
Entre outras medidas, a lei transferiu as ações de saúde indígena para a Funasa, onde ela permaneceria até 2010, quando foi criada a Sesai. “Saúde é direito de todos e dever do Estado” (Sérgio Arouca). O capítulo V da norma trata do Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi). No documento está prevista a obrigatoriedade de:
“Levar em consideração a realidade local, as especificidades da cultura dos povos indígenas e o modelo a ser adotado para a atenção à saúde indígena, que se deve pautar por uma abordagem diferenciada e global, contemplando os aspectos de assistência à saúde, saneamento básico, nutrição, habitação, meio ambiente, demarcação de terras, educação sanitária e integração institucional”.
De acordo com a referida publicação, o texto prevê, ainda, que “as populações indígenas devem ter acesso garantido ao SUS, em âmbito local, regional e a centros especializados, de acordo com suas necessidades, compreendendo a atenção primária, secundária e terciária à saúde”. Além disso, determina que “as populações indígenas terão direito a participar dos organismos colegiados de formulação, acompanhamento e avaliação das políticas de saúde, tais como o Conselho Nacional de Saúde (CNS) e os Conselhos Estaduais e Municipais de Saúde, quando for o caso”.
Com o surgimento da nova legislação, incluída no capítulo V da Lei nº 8.080 de 19 de setembro de 1990, que estabeleceu o SUS, a responsabilidade formal e de toda a estrutura de Estado relacionada ao atendimento à saúde indígena, incluindo as unidades de saúde, os funcionários, as funções de confiança e os recursos orçamentários, passou a ser da Funasa, órgão executivo do Ministério da Saúde, por meio da portaria Nº 852, de 30 de setembro de 1999 (FUNASA, 2009).
A Funasa, em seu artigo 1° e 2º, estabelece o seguinte:
“Art. 1° – Ficam criados os Distritos Sanitários Especiais Indígenas, de acordo com a denominação, vinculada administrativa, jurisdição territorial, sede, população, etnias, casas do índio e demais características constantes dos Anexo I a XXXIV.
Art. 2° – Ao Distrito Sanitário Especial Indígena – DSEI compete atuar como unidade de execução das ações destinadas à promoção, proteção e recuperação da saúde do índio, objetivando o alcance do equilíbrio bio-psicossocial, com o reconhecimento do valor e da complementariedade das práticas da medicina indígena, segundo as peculiaridades e o perfil epidemiológico de cada comunidade. Funasa/Ministério da Saúde iniciou, em 1999, a implantação de uma nova política de saúde para os povos indígenas”.
Para a CCPY, isso significou a descentralização dos serviços de atendimento, por meio de parcerias com diversas instituições (prefeituras, estados, ONGs etc.), estruturando os Distritos Sanitários Especiais Indígenas em todo o País.
Um exemplo citado como o mais positivo pelos Yanomami até os dias atuais (2023) foi Urihi-Saúde Yanomami, uma organização não governamental brasileira fundada em setembro de 1999 por membros da Comissão Pró-Yanomami (CCPY) a partir, principalmente, de atendimentos de saúde desenvolvidos desde 1991 nas regiões do Demini, Toototopi e Balawaú, A Urihi estabeleceu um convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e assumiu a responsabilidade pela assistência direta à saúde de aproximadamente 55% da população Yanomami residente no Brasil, ou o equivalente a 6.414 pessoas.
Convênios desse tipo se tornaram comuns em vários territórios indígenas ao longo dos anos 2000, pois, embora a Funasa tenha assumido a responsabilidades sobre o recém-criado Sasi – até então as políticas de saúde direcionadas aos povos indígenas estavam sob responsabilidade da Funai, que realizava ações pontuais -, ela não estava capacitada para tanto, já que sua expertise era no campo do saneamento rural e de campanhas de prevenção de doenças em comunidades rurais, não havendo sequer antropólogos e linguistas nos quadros da instituição, e seus profissionais de saúde não estavam preparados para lidar com a enorme diversidade cultural e linguística que caracteriza os povos indígenas no Brasil.
Assim, embora possam ser considerados “improvisos” de uma instituição despreparada para executar as responsabilidades atribuídas pelo Estado, de acordo com a Urihi, isso resultou numa expressiva melhora da situação de saúde nessas três regiões: redução da incidência de malária e dos coeficientes de mortalidade infantil e geral (cerca de 10 vezes menor do que no ano anterior à assistência permanente), crescimento populacional acumulado de 22% nos últimos seis anos e cobertura vacinal média de 93%.
Por outro lado, nas regiões que a assistência permanente não alcançava pelas restrições do processo de seleção e contratação de recursos humanos, bem como por fatores ligados à administração de recursos e à precária gerência técnica local, segundo a CCPY, isso se traduzia em péssimos indicadores de saúde, tais como altas taxas de morbimortalidade por doenças infectocontagiosas, baixa cobertura vacinal e mortalidade infantil 2,5 vezes maior do que a média nacional.
As equipes da Urihi notificaram, ao longo do ano 2000, um total de 26.240 casos de doenças, dentre elas, a infecção respiratória aguda (IRA) de maior incidência na parcela da população Yanomami e responsável por 41% do total das doenças notificadas, atingindo principalmente a população infantil, segundo a entidade:
“Desta maneira, com os resultados positivos no combate à malária, a IRA passa a ser a doença que oferece o maior risco à vida dos Yanomami e está sendo encarada como uma prioridade no programa de saúde da Urihi.”
Em 2000, conforme a CCPY, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, rejeitou por unanimidade o recurso para rever a condenação dos garimpeiros condenados no massacre de Haximu. Diante da segunda decisão desfavorável, os garimpeiros entraram com embargos alegando que, ao analisar o pedido do Ministério Público Federal, o STJ não havia se manifestado sobre questões constitucionais referentes ao julgamento do crime de genocídio.
Entretanto, o então ministro do STJ Jorge Scartezzini, relator do novo recurso, rejeitou o pedido dos garimpeiros afirmando que a decisão anterior tinha “abordado por completo o tema”. A última decisão sobre o caso de Haximu foi proferida em 2006. O plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu, por unanimidade, que o crime foi um genocídio e manteve a condenação da Justiça Federal de Boa Vista.
Contudo, nem todas as relações dos Yanomami com os pesquisadores e profissionais de saúde não indígenas tiveram resultados positivos. Por exemplo, em 27 de novembro de 2002, a CCPY publica notícia sobre a preocupação dos Yanomami de Toototopi, vítimas da coleta de sangue realizada por pesquisadores americanos nas décadas de 1960 e 1970, cujas amostras ficaram armazenadas em laboratórios nos Estados Unidos.
De acordo com a Rádio França Internacional (RFI, 2011), lembrando publicação do Le Monde de 1967, o geneticista estadunidense James Niel recolheu 12 mil amostras de sangue de cerca de 3 mil yanomamis, entre 1966 e 1970. Ele queria comparar mutações genéticas registradas nos sobreviventes das bombas nucleares de Hiroshima e Nagasaki a mutações registradas em comunidades isoladas.
O antropólogo estadunidense Napoleon Chagnon intermediou o trabalho com os Yanomami, com quem conviveu por um ano. Ao retornar para os Estados Unidos, escreveu inúmeros artigos e livros de sociobiologia sobre o caráter e a “natureza” dos indígenas.
Em 2002, o jornalista estadunidense Patrick Tierney publicou o livro “Trevas no Eldorado”, relatando uma série de supostos abusos praticados por cientistas e jornalistas na região da Amazônia. Quando o líder da comunidade yanomami no Brasil, Davi Kopenawa, recebeu a obra, descobriu que as amostras de sangue recolhidas haviam sido congeladas e conservadas em laboratórios nos Estados Unidos. Para os Yanomami, as amostras de sangue são restos mortais e, por isso, devem ser eliminados.
Desde então, relata o Le Monde, a comunidade Yanomami no Brasil pede a restituição do sangue, inicialmente sem sucesso. Bruce Albert publicou “Reflexões sobre Trevas do Eldorado: questões sobre Bioética e Assistência à saúde entre os Yanomami”, que trata da violação do consentimento informado dos Yanomami, usados em sua revelia, como classifica o autor, em uma agência nuclear, estando as amostras de sangue até então em posse das instituições de pesquisas dos Estados Unidos:
De acordo com Albert, em artigo republicado pela CCPY (2002):
“Como sabemos, boa parte das acusações e críticas levantadas em ‘Trevas do Eldorado’ não são novas; circulam no debate antropológico há anos, e, em alguns casos, décadas. Portanto, a investigação de Tierney apenas completa e sintetiza, com investigação in loco, entrevistas e alguns dados documentais novos, um conjunto dos fatos, já conhecidos e publicados (como atesta sua extensa biografia) com as limitações da falta de rigor e sensacionalismo geralmente inerentes a esse tipo de exercício jornalístico”.
Abaixo estão duas cartas dirigidas à Procuradoria Geral da República (PGR) pedindo ao governo brasileiro empenho em negociações com autoridades estadunidenses a fim de que o material extraído fosse devolvido ao povo Yanomami. A CCPY apresentou a íntegra das duas cartas, que reproduzimos a seguir:
A primeira era a carta de Davi Kopenawa:
“Demini, 11 de novembro de 2002.
Caros Procuradores,
Nós Yanomami queremos mandar esta carta para vocês porque estamos tristes com sangue de nossos parentes mortos nas geladeiras nos Estados Unidos. Olha, falei com meu povo yanomami de Toototopi, onde os americanos tiraram o sangue. Os velhos falaram que estão com raiva porque esse sangue dos mortos está guardado por gente de longe.
Nosso costume é chorar os mortos, queimar corpos e destruir tudo que usaram e plantaram. Não pode sobrar nada, senão o povo fica com raiva e o pensamento não fica tranquilo. Os americanos não respeitam nosso costume, por isso queremos de volta nossos vidros de sangue e tudo que tiraram do nosso sangue para estudar.
Precisamos da ajuda de vocês para conversar com os americanos que têm nosso sangue para eles devolverem.
Obrigado, um grande abraço.
Assinado: Davi Kopenawa Yanomami”
A outra carta era da comunidade de Paapiu:
“Há muito tempo os americanos levaram nosso sangue, e nós o queremos de volta. Esse sangue pertence aos pajés, por isso, nós jovens estamos muito tristes. Você, Presidente do Brasil, pode perguntar ao governo americano sobre nosso sangue que há 30 anos foi levado para aquele país. Nós queremos que eles nos devolvam. Nós, Yanomami da região do Paapiu, escrevemos este documento e o estamos enviando à Procuradoria.
Koatã Yanomam Aiama; Miúdo Yanomama Arokona; José Yanomama Arokona; Eduardo Yanomama Toroto; Branco Yanomama Kitato; Raimundo Yanomama kakuruma; Xacamim Yanomama Kayapa; Xapuri Yanomama; Thomé Yanomama Hera; Valdir Yanomama Waithëri; Raimundo Yanomama Catrimani I Thëri; Makuxi Yanomama Perokapiu; Denilson Yanomama Porari; Xaiya Yanomama Ixoma; Gorge Yanomama Yurimotima; Joel Yanomama Komati; Arikó Yanomama Puusitatima; Geraldino Yanomama Paxori; Alfredo Yanomama Himotóno; João Davi Yanomama Maraxi”.
Napëpë é um documentário de 2004, realizado por Nadja Marin, então aluna da Universidade de São Paulo (USP), que contextualiza o que aconteceu à época da coleta das amostras de sangue com as falas dos Yanomami e suas lembranças sobre o experimento, bem como sobre a importância de reaver o sangue de seus parentes mortos segundo sua cosmologia (Napëpë pode ser visto aqui).
A Urihi, em 2003, relata que as esperanças de criação de um diálogo e um engajamento da União com a saúde indígena após as eleições presidenciais de 2002 foram frustradas com os rumos tomados pelo setor no início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva.
O movimento indígena e as organizações de apoio se empenharam em criar um espaço de diálogo com o futuro governo no período de transição, realizando uma reunião com o Dr. Humberto Costa, na época, tido como futuro Ministro da Saúde, levando as preocupações em relação à continuidade da assistência nos Departamentos de Saúde Indígena (Desais).
Em abril de 2003, as organizações conveniadas com a assistência de saúde indígena promoveram um encontro em Manaus com o Dr. Ricardo Chagas, então assessor (e futuro Diretor) do Departamento de Saúde Indígena (Desai) da Funasa, a fim de buscar soluções para os problemas relativos à condução das parcerias, destacando a falta de apoio político, técnico e administrativo na execução dos convênios por parte da Funasa até aquele momento, bem como a omissão do Ministério da Saúde (MS) como órgão gestor.
Em junho de 2003, uma comissão das organizações da sociedade civil conveniadas, em audiência requerida junto ao Ministério da Saúde, expôs novamente as preocupações levantadas na reunião de abril em Manaus para o Secretário Executivo, Dr. Gastão Wagner S. Campos. Nesse encontro, a comissão tomou conhecimento de que o governo havia abandonado a proposta das Organizações da Sociedade Civil de Interesse Público (Oscips).
Em novembro de 2003, as organizações conveniadas tomaram a iniciativa de solicitar uma nova audiência com o Ministério da Saúde. Na ocasião, a comissão representante das associações indígenas e indigenistas entregou ao secretário executivo do Ministério da Saúde, Gastão Wagner S. Campos, o documento “Os Povos Indígenas do Brasil, por meio de suas organizações e lideranças, reivindicam que o Ministério da Saúde assuma de forma direta, integral e definitiva a sua responsabilidade pela gestão da saúde indígena”.
Em 04 de fevereiro de 2004, representantes Yanomami se reuniram em assembleia em Mucajaí (RR) para debater possíveis mudanças com o modelo proposto de atenção à saúde dos povos indígenas, em vigor a partir das portarias n°69 e 70 de 20 de janeiro de 2004, editadas pela Funasa, pois a instituição foi pressionada a reassumir a execução direta das ações de assistência à saúde.
Esse modelo estabelecia ainda que a Fundação ficaria responsável pelas aquisições de medicamentos, transporte das equipes de campo e combustível, além de obras e licitações. Os convênios com as organizações não governamentais, tendo a Urihi como exemplo, além de outras entidades parceiras, funcionariam apenas de forma classificada, sem maiores precisões, como “complementares”.
De acordo com o boletim da CCPY, essas normas pareciam reduzir, de fato, seu papel efetivo essencialmente à contratação e formação de pessoal e participação em instância de controle social:
“De 1991 até 1999, as ações governamentais de execução direta da assistência sanitária na área Yanomami (pela então Funasa – Fundação Nacional de Saúde) foram insuficientes para conter o avanço de doenças como a tuberculose, malária, verminoses, sarampo, gripe, coqueluche, desnutrição infantil, entre outras, que, por pouco, não dizimaram a população Yanomami, hoje estimada em cerca de 22 mil indivíduos, dos quais 13.600 em território brasileiro, nos estados de Roraima e Amazonas, e o restante na Venezuela.
O início desta situação sanitária desastrosa começou com a invasão maciça de garimpeiros na Terra Indígena Yanomami no fim dos anos oitenta e começo dos noventa, deixando um saldo trágico: a morte de cerca de 15% da população Yanomami”.
Em fevereiro de 2004, por meio do site de notícias Manchetes Socioambientais, a Urihi comunica o fim da parceria com a Funasa, pois esta denunciara a ONG, desestabilizando o Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Yanomami, que tinha se consolidado desde a reforma da saúde indígena de 1999, como o que a ONG classificava de “um modelo de assistência eficiente”. O trecho da carta da Urihi, em 16 de fevereiro de 2004, expõe com mais detalhes as motivações de desligamento do vínculo com a Funasa:
“Diante deste quadro, a organização não governamental Urihi, responsável pelo atendimento a 53% da população Yanomami no Brasil (Roraima e Amazonas) encontra-se na obrigação de encerrar sua parceria com a Funasa. Diante do fato consumado: o ‘novo modelo’ de gestão da saúde indígena.
Foi recentemente organizada em Brasília (dias 02 e 06 de fevereiro de 2004) a Primeira Oficina Integrada da Saúde Indígena, durante a qual a Funasa e o Ministério da Saúde anunciaram e explicaram suas novas diretrizes para a saúde indígena, editadas anteriormente em duas Portarias de 20 de janeiro de 2004 (Nº 69 e 70).
Do dia 02 ao dia 04 a Oficina contou apenas com técnicos do governo para a ratificação das mudanças no quadro da reforma da saúde indígena de 1999 e as organizações não governamentais e lideranças indígenas foram convocadas apenas nos últimos dois dias do encontro, para meramente tomar conhecimento do ‘novo modelo’ e, eventualmente, manifestar as suas opiniões no tempo limitado reservado ao final das palestras.
O breve encontro com as organizações conveniadas foi aberto com o discurso do Secretário Executivo do Ministério da Saúde, Gastão Wagner S. Campos, garantindo a prioridade do governo para a saúde indígena, o fortalecimento da capacidade gestora do Estado, a criação de um Comitê Consultivo da Política de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas [1] e anunciando, ainda, o aumento de 30% no orçamento de 2004 para a assistência às populações indígenas.
Em seguida, o presidente da Funasa, Dr. Valdi Camarcio Bezerra, enfatizou a importância da saúde indígena e da necessidade de mudanças, uma vez que, segundo ele, governo e sociedade não estão satisfeitos com a situação atual, em que organizações indígenas, organizações indigenistas e alguns municípios conveniados executam juntos quase a totalidade das ações de saúde nos 34 Distritos de Saúde Especiais Indígenas (DSEIs) da Funasa.
No mesmo dia, representantes da Funasa evocaram análises jurídicas relativas às responsabilidades do Estado na gestão e na execução da atenção à saúde para os povos indígenas, concluindo que a participação das organizações conveniadas na execução só poderá ser ‘complementar’, ainda que a natureza de tal ‘complementaridade’ não tenha nenhuma definição na legislação vigente.
O dia final do encontro ficou reservado para a comunicação às conveniadas das atribuições do Ministério da Saúde e da Funasa na gestão e execução das atividades, bem como da possível ação ‘complementar’ reservada às organizações indígenas e indigenistas e aos municípios:
– contratação de pessoal
– atenção nas aldeias com insumos
– deslocamento de índios da aldeia
– combustível para o deslocamento das aldeias”.
A perspectiva dos Yanomami sobre o atendimento centralizado da Funasa foi divulgada por meio de carta elaborada pelos participantes de reunião, em julho de 2004, para a primeira avaliação do atendimento em suas regiões.
“Parawau, Posto Yano, 27 de julho de 2004.
A vocês da Funasa.
Digam o que vocês pensam sobre a nossa atual situação, nós queremos esclarecer isso. Não há carne de caça aqui, mas nós fizemos o que chamam de reunião, é uma tentativa de acertarmos o que está acontecendo. Como nós pensamos sobre os brancos que estão trabalhando com a nossa saúde agora? Nós não pensamos à toa, porém não temos ainda uma opinião definitiva.
Vocês da Funasa não trabalham como trabalhavam antes os da Urihi, mas nós vamos tentar corrigir isso. Os brancos da Urihi trabalhavam bem. Se estávamos com saúde aqui, eles seguiam para outra casa onde houvesse doenças, sem pressa de retornar para o posto. Era assim que eles faziam, trabalharam muito em outros lugares. Depois de curarem os outros Yanomami, somente após isso eles retornavam para casa.
Eles também detectavam doenças lá longe, entre os Maxapipiwei teri pë, era assim que eles faziam, os da Urihi. Vocês da Funasa não fazem da mesma forma que a Urihi fazia no passado, mas nós vamos insistir para que melhorem. Se hostilizarmos os da Funasa à toa, não virão outros brancos aqui para nos curar. Por isso fizemos esta reunião, para tentarmos conscientizá-los.
Se não dissermos ‘Ajudem-nos, vocês da Funasa’, vocês não nos ajudarão, vocês não nos responderão. Talvez vocês digam ‘não, os Yanomami não pensam direito’. Nós dizemos: ‘Nós não queremos que nossos filhos morram, eles já morreram demais no passado’. ‘Não sejam preguiçosos’, ‘vá até minha casa’. Quando falamos desta forma, vocês devem ir. Vocês da Funasa que entraram na nossa terra, não sejam preguiçosos.
Nós estamos vigiando, estamos atentos, de olho na administração de remédios. Nós estamos observando diretamente se a pneumonia acaba, se nos curam bem. Agora, se o pessoal da Funasa ficar bravo à toa, afugentar crianças e reclamar, aí vamos ter vontade de nos livrar deles. Se não nos curarem, não será nada bom.
A Urihi trabalhava assim: eles iam para o Koherepi, para o Uxiximapiu, para o Maxapipi, para o Raharapi, para o Etewexipi. Era assim que a Urihi atuava, por isso os Yanomami ficavam realmente muito felizes. Mas a mulher da Funasa nos mandou para trabalhar para eles. As crianças estavam doentes, mas a mulher da Funasa nos fazia trabalhar.
‘Come peixe!’. ‘Depois de comer, você deve curar as crianças’, nós lhe dissemos. Se não curarem nossos filhos, não queremos trabalhar com vocês e vamos querer dizer que ‘a Funasa não é boa’. Isso vai acontecer se nossos filhos morrerem de pneumonia ou de outras doenças. Aí, não queremos mais ter vocês da Funasa por aqui. ‘Vamos chamar outros brancos realmente bons’, é isso que vamos dizer, se isso acontecer.
Nós também dissemos aos da Funasa que foram à nossa casa: ‘Vocês devem trabalhar como faziam os da Urihi até recentemente’. Mas eles nos chamaram de preguiçosos quando não fomos pescar para eles, após dizerem ‘estou com fome’.
Outro assunto. Há microscopistas entre nós, Yanomami, mas se não tiverem o que fazer, a situação vai piorar, por isso queremos voltar a atuar com a Funasa. As coisas ficarão boas quando voltarmos a trabalhar como na época da Urihi. Ainda lemos lâminas, ainda sabemos ver a malária. Nós queremos continuar a trabalhar, mas não nos dão o que fazer. Vocês também estão inativos, por isso estamos tristes.
Os Yanomami que discutiram esse assunto foram:
Geraldo Wanapiu teri, conselheiro local; Edu Xakipi teri; Ivo Xakipi teri; Vitor Koherepi teri; Atapae Parawau teri; Topo Parawau teri; Cassio Etewexipi teri; Carlos Etewexipi teri; Aroldo Etewexipi teri; Robi Etewexipi teri; Adão Uxiximapiu teri”.
Não há informações sobre uma resposta oficial da Funasa à carta.
No dia 12 de novembro de 2004, foi criada a Hutukara Associação Yanomami (HAY) durante Assembleia Geral na aldeia de Watoriki (Demini). Convocada por Davi Kopenawa Yanomami, a Assembleia teve participação de 64 representantes de 11 regiões da Terra Indígena Yanomami, a saber: Parawau, Toototopi, Homoxi, Auaris, maloca do Paapiú, Catrimani 1, Baixo Mucajaí, Missão Catrimani, Kayanau, Haxiú e Demini.
Davi Kopenawa abriu a reunião discorrendo sobre a necessidade de se criar uma associação para proteger e fortalecer o povo Yanomami. Seguiram-se as apresentações de cada representante indígena e não indígena, traduzidas por jovens Yanomami.
Foram expostas propostas das várias associações ali representadas, com destaque especial para o porta-voz da Associação Yanomami do Rio Cauaburis e Afluentes (Ayrca), o jovem professor yanomami Armindo Melo, cuja exposição sobre como deve operar uma associação indígena contribuiu decisivamente para que os participantes Yanomami aprofundassem sua compreensão da importância de se organizarem formalmente.
Como consequência das limitações da execução da política de saúde indígena diretamente pela Funasa, em novembro de 2005, a CCPY divulga documento apontando o crescimento recorde dos casos de malária nas aldeias Yanomami. O número chegou a 1.006 casos da doença somente durante os primeiros nove meses de 2005 (janeiro a setembro), segundo estratificação epidemiológica da malária no Dsei Yanomami, feita pela Fundação Nacional de Saúde (Funasa).
A população que mais sofreu com o aumento da incidência da malária foi a do rio Marauiá, afluente do rio Negro, com 382 casos entre seus 1.393 habitantes. Em seguida, estava a região do Mucajaí, compreendendo os polos do Apiaú, Baixo e Alto Mucajaí, Paapiu Novo e Maloca Paapiu, com 918 pessoas, onde foram registrados 143 casos.
O presidente do Serviço e Cooperação com o Povo Yanomami (Secoya), organização conveniada da Funasa responsável pelo atendimento na região, João Silvério Dias, atribuiu a causa desses números aos atrasos constantes no repasse de verbas da Funasa, afetando o atendimento, e à política centralizadora de compras da Fundação, impedindo a aquisição emergencial de remédios.
Em fevereiro de 2006, a Urihi Saúde Yanomami faz uma crítica à resposta da Funasa aos números apresentados sobre o aumento dos casos de malária. A Funasa havia comentado na Folha de Boa Vista, em janeiro de 2006: “A malária decorre mais de fatores externos ao setor de saúde do que o próprio setor de saúde em si, que é o responsável pelos procedimentos curativos”.
A Urihi classificou o comentário como cínico e afirmou que a atitude da Funasa só levaria à inquietante conclusão de que sua administração perdera o sentido de sua responsabilidade ética e constitucional para com a saúde indígena. Segundo o documento:
“Certos fatores fogem, é verdade, ao controle do sistema de saúde (mas não do Governo que sustenta este sistema), como é o caso dos focos de garimpo ilegal ainda em atividade na terra Yanomami ou dos contatos indiscriminados com populações ribeirinhas não indígenas. Porém, deve-se lembrar aqui que o impacto destes fatores é constante desde os anos [19]90 e, assim, de nenhuma maneira pode justificar, em 2005, uma repentina volta da malária entre os Yanomami em níveis epidêmicos.
Finalmente, em reação à notícia desta nova epidemia, o mais preocupante foram as declarações do coordenador-geral de Planejamento e Avaliação de Saúde Indígena da Funasa, o Sr. Frederico Monteiro, gestor a quem caberia ter a dimensão exata da gravidade deste quadro epidemiológico a fim de tomar medidas adequadas para reverter o caos do DSY.
Muito pelo contrário, o Sr. Monteiro, em entrevista à Folha de São Paulo de 5/02/06, reconheceu o aumento de 164% dos casos de malária na terra Yanomami, porém, na tentativa de minimizá-lo, declarou, sem medo do paradoxo, que a situação na área melhorou em razão da diminuição do número de mortos pela doença”.
Enquanto isso, outros problemas continuavam a afetar a TI Yanomami. De acordo com a publicação do educador e sertanista Antenor Vaz, “Povos Indígenas Isolados e de Recente Contato no Brasil”, a Funai, a Polícia Federal e o Exército Brasileiro, ao longo de 2011 e 2012, desencadearam inúmeras operações que desativaram dezenas de garimpos clandestinos e prenderam garimpeiros ilegais no interior da Terra Indígena Yanomami.
Duas Bases de Proteção Etnoambiental – Bape foram instaladas no interior da TI Yanomami: uma na Região da Serra da Estrutura (Bape Valdez Marinho), com o objetivo de promover a proteção dos isolados conhecidos por Moxihatëtëmathëpë, e a segunda no baixo rio Mucajaí.
A publicação divulga a posição da Hutukara Associação Yanomami, em carta aberta na RIO+20 (Conferência das Nações Unidas sobre Desenvolvimento Sustentável, em 2012) sobre as limitações dessa política de proteção etnoambiental e a forma mais eficaz de combater a estrutura garimpeira na TI Yanomami:
“Nos últimos quatro anos retornou o garimpo na TIY. A Hutukara documentou e denunciou a todas as instituições governamentais responsáveis pela manutenção da integridade física e cultural dos povos indígenas, como a Funai, Polícia Federal e MPF, a gravidade desta invasão.
No ano passado foram realizadas algumas operações conjuntas do Exército, Polícia Federal e Funai. São ações importantes e devem ser feitas com regularidade. No entanto, não resolvem o problema do garimpo. São operações caras e ineficazes para o fim a que se propõem.
É necessário a realização de serviço de inteligência que permita desabastecer o garimpo e inviabilizá-lo economicamente, por meio da identificação e responsabilização de seus empresários (locais e em outros estados), pilotos, interdição de aeronaves, pistas de pouso e locais de abastecimento de combustível, provavelmente todos localizados em Boa Vista e arredores.
É preciso mudar o foco de prender garimpeiro ou ‘fazer remoção’, para buscar todos os envolvidos e responsabilizá-los, não apenas por garimpo ilegal, mas também por formação de quadrilha, crime contra bens da União, sonegação fiscal e crimes ambientais.
A falta de ação eficaz à atividade criminosa faz com que os garimpeiros ampliem progressivamente a sua ação nociva, que não se restringe mais ao meio-ambiente e aos bens da União, mas afeta diretamente comunidades indígenas ao aliciar famílias inteiras, com distribuição de armas, alimentos, roupas.
Existe também a possibilidade de conflitos entre garimpeiros e índios que não os aceitam, como ocorreu com o genocídio em Haximu, em 1993. As inúmeras denúncias e críticas fizeram com que a Polícia Federal instaurasse um inquérito para investigar o presidente da Hutukara por crime de denúncia falsa e recentemente o indiciou!”
A 3ª Vara Criminal de Roraima deu por cumprida a pena de Pedro Emiliano Garcia, líder do massacre de Haximu (1993), em 20 de janeiro de 2011. Garcia, então, foi solto. Dos cinco condenados pelo crime, só Garcia ainda estava vivo, segundo levantamento da polícia no Estado. O garimpeiro voltou a garimpar na mesma região onde havia cometido o crime.
No ano de 2012, sobreviventes do massacre de Haximu, Marisa e Leida Yanomami, relembraram o ocorrido em entrevista ao Survival Internacional: “Os garimpeiros mataram meus irmãos, irmãs e meu pai com terçados; alguns morreram com armas de fogo… Nós não podemos falar muito porque é uma tristeza. Quando nós falamos sobre o massacre nós lembramos do nosso pai”.
Davi Kopenawa complementa:
“Eu nunca esqueci de Haximu. Os garimpeiros mataram dezesseis Yanomami e os mesmos garimpeiros voltaram para lá. Nós estamos revoltados porque os garimpeiros não foram punidos e não sofreram como nós sofremos. Nós não lembramos os nossos mortos. Os brancos gostam de ficar perguntando sobre Haximu, mas não faz nada.
Os napë pë (não indígenas) gostam de escrever para botar no papel o que aconteceu. Eu fico pensando, os napë pë fazem entrevistas para os outros lerem para lembrarem, mas os Yanomami não esqueceram, não”.
Entre 07 e 11 de outubro de 2012, a Hutukara Associação Yanomami (HAY), do Brasil, e a Horonami Organização Yanomami (HOY), da Venezuela, promoveram seminário para discutir avanços e retrocessos das políticas públicas dos dois países: O “Seminário direitos indígenas y políticas nacionales: analizando el caso de los Yanomami de Venezuela y Brasil” aconteceu na cidade de Puerto Ayacucho, na Amazônia venezuelana. Nesse evento, foi realizado um ato pelos 20 anos do massacre do Haximu, que ocorreria em 2013.
A advogada do ISA, Ana Paula Caldeira, reforçou que, embora o massacre de Haximu tenha sido o único caso julgado formalmente pela justiça brasileira como genocídio, os culpados não foram condenados à altura, de maneira que, em 2012, o garimpeiro Pedro Emiliano Garcia, envolvido no massacre, foi novamente preso dentro da Terra Indígena Yanomami em operação da Polícia Federal para combater o garimpo.
Em 03 de junho de 2014, o Ministério Público Federal (MPF), por meio dos procuradores no Município de Tucuruí/PA, recomendaram ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) que recusasse todos os requerimentos de pesquisa e lavra mineral que incidissem em terras indígenas pela ausência da regulamentação do tema pelo Congresso.
Dentre os argumentos elencados para pedir o indeferimento, o MPF fez algumas considerações, dentre as quais:
“(…) que a inevitável degradação do meio ambiente que a mineração acarreta tem efeito devastador para as populações indígenas, por favorecer o assoreamento e contaminação de rios e igarapés por mercúrio, a transmissão de doenças, como tuberculose, gripe, lepra [hanseníase] e a mudança de hábitos tradicionais da comunidade, como o uso de bebida alcoólica;
(…) que o entorno das Terras Indígenas precisa ser igualmente protegido, como condição necessária para a sobrevivência física e cultural das populações indígenas (art. 2º do Decreto Presidencial nº 24, de 4 de fevereiro de 1991), nos mesmos moldes assegurados às unidades de conservação (Lei nº 9.985/2000, artigo 2º, inciso XVIII);
(…) que tal desiderato é necessário para uma adequada transição entre a sociedade envolvente e a vida, costumes e tradições existentes na reserva indígena, servindo para minimizar os efeitos das atividades não indígenas existentes nas áreas que cercam as reservas indígenas”.
Em 21 de setembro de 2015, os Yanomami, a Hutukara e Davi Kopenawa, em particular, tiveram uma vitória significativa: após 45 anos da coleta e muitos anos de luta, o Ministério Público Federal fez a entrega formal a Kopenawa de um lote de 474 amostras de sangue levadas por cientistas estadunidenses, em 1960. Teoricamente, elas completavam uma primeira remessa de 2.693 frascos, realizada em março.
No seu agradecimento ao MPF, Davi Kopenawa relembrou que o material havia sido colhido e levado para os Estados Unidos “sem consulta a ninguém” e agora seria levado para a aldeia e devolvido a cerca de 200 indígenas, que já estavam à espera:
“Vai ser outra choradeira. Quando Yanomami vê, se lembra e chora muito. Depois do choro, pequena festa para agradecer nosso sangue que retornou ao Brasil. Vamos fazer buraco na mãe terra, devolver sangue de onde viemos. Nascemos da terra, então temos que devolver esse sangue”.
Em entrevista à plataforma Agência Pública (junho de 2016), o servidor L.D., do DNPM no Pará, explicou, sob a condição de não ter seu nome revelado, que existem duas correntes de pensamento a respeito da mineração em áreas indígenas. “Uma que diz que é possível”, à qual ele pertence. “E outra diz que não é possível”.
Para ele, se alguém requerer dentro de uma área indígena o pedido deve ser indeferido, justamente por causa da falta de regulamentação. O servidor pondera: “Entendo que o direito de pedir enquanto não se homologou a terra é facultado a qualquer pessoa. Agora, se ele será atendido ou não é outra coisa”.
A posição da Hutukara sobre a Mineração em Terras Indígenas, expressa em documento assinado por Davi Kopenawa, evidencia as diferenças das visões de mundo:
“Vocês, brancos, dizem que nós, Yanomami, não queremos o desenvolvimento. Falam isso porque não queremos a mineração em nossas terras, mas vocês não estão entendendo o que estamos dizendo. Nós não somos contra o desenvolvimento: nós somos contra apenas o desenvolvimento que vocês, brancos, querem empurrar para cima de nós.
O desenvolvimento que vocês falam em nos dar não é o mesmo que conhecemos: vocês falam em devastar a nossa terra-floresta para nos dar dinheiro, falam que somos carentes, mas esse não é o desenvolvimento que nós conhecemos. Para nós desenvolvimento é ter nossa terra com saúde, permitindo que nossos filhos vivam de forma saudável num lugar cheio de vida.
Nós Yanomami entendemos muito bem sobre esse assunto e ficamos apenas preocupados com aqueles que dizem representar todo nosso povo e pedem por mineração. São pessoas que ficam pensando como as mineradoras funcionam, pensam que elas não devastam a floresta, mas não entendem o que realmente vai ocorrer.
A mineração não é como o garimpo, não são pessoas que entram na floresta e degradam apenas algumas regiões. A mineração precisa de estradas para transportar os minérios, precisa de grandes áreas para guardar a produção, precisa de locais para alojar os funcionários, fará grandes buracos na terra que não deixarão a nossa floresta voltar a se recuperar.
Entendemos como as mineradoras atuam, não pensem que confundimos seu trabalho com o dos garimpos. Conhecemos muito bem a diferença, morremos muito na época do garimpo ilegal em nossa terra, sabemos as diferenças. Sabemos que as mineradoras vão precisar de energia para funcionar.
De onde virá essa energia para fazer as máquinas funcionarem? Como vocês transportarão os minérios? Quando os minérios mais valiosos terminarem e as mineradoras forem embora, o que acontecerá com os trabalhadores que foram até a terra indígena? Quando transformarem e produzirem minério, quais são os resíduos que podem contaminar nossa terra por muito tempo?
Vocês falam que somos pobres e que nossa vida vai melhorar. Mas o que vocês conhecem da nossa vida para falar o que vai melhorar? Só porque somos diferentes de vocês, que vivemos de forma diferente, que damos valor para coisas diferentes, isso não quer dizer que somos pobres. Nós Yanomami temos outras riquezas deixadas pelos nossos antigos que vocês, brancos, não conseguem enxergar: a terra que nos dá vida, a água limpa que tomamos, nossas crianças satisfeitas.
Vocês brancos pensam que nós somos pássaros, ou somos cotias, para nos darem apenas o direito a comer os frutos que nascem em nossas terras? Não pensamos as coisas de forma dividida, pensamos na nossa terra-floresta como um todo. Se vocês destruírem o que está abaixo do solo, tudo que está acima também sofrerá.
Não estamos preocupados apenas com o que vai acontecer com os povos indígenas. Vocês pensam que os brancos não serão afetados? Vocês não aprendem com o que está acontecendo no mundo? Está ficando mais quente, em outros lugares o clima está mudando, os grandes rios estão morrendo, os animais também estão morrendo e todos estão sofrendo. Vocês ainda não aprenderam que esse tipo de desenvolvimento pode matar todos nós?
Não somos apenas nós, povos indígenas, que vivemos na nossa terra. Vocês querem perguntar a todos os moradores da floresta o que eles acham sobre a mineração? Então perguntem aos animais, às plantas, ao trovão, ao vento, aos espíritos xapiri, pois todos eles vivem na floresta. A floresta também pode se vingar de nós, quando ela é ferida.
Sabemos que as leis do Brasil dizem que o subsolo da terra pode ser explorado. Mas queremos garantir nosso direito de escolher o que é melhor para nós, como as próprias leis brasileiras garantem. Não pensamos que todos os povos indígenas são contra a mineração: alguns não querem, outros querem. Mas queremos que seja discutido primeiro o Estatuto das Sociedades Indígenas, porque as palavras do nosso Estatuto já estão muito velhas. Queremos isso para garantir nosso direito de escolher.
Nós sabemos que existem muitos interesses, mais fortes do que políticos, para fazer a mineração em nossa terra. São interesses de quem tem muito dinheiro, de quem quer ganhar muito mais dinheiro. Nós sabemos que não querem nos ajudar, eles dizem apenas que querem nos ajudar, que farão escola, darão assistência à saúde, darão luz, mas sabemos que por trás dessas palavras falsas está o desejo de fazerem crescer seu dinheiro. Eles podem enganar outras pessoas, mas não nos enganam.
Nós Yanomami não queremos mineração, não queremos que ela seja feita em nossa terra. Nós já nos manifestamos contrários à Comissão Nacional de Política Indigenista (CNPI), que o governo criou, mas resolveu ignorar criando, depois, a Comissão Especial para discutir a lei de mineração em terras indígenas.
Se vocês brancos mostrarem um lugar onde os povos indígenas vivem realmente bem com a mineração, um lugar onde vivem com saúde, respeitando suas culturas, onde os brancos os ajudem de forma correta e não os enganem ao darem dinheiro, onde não passem fome e onde não passem sede, se virmos esse lugar, do mesmo tamanho que nossa terra-floresta, podemos voltar a discutir esse assunto.
Vocês estão realmente escutando nossas palavras? Vocês, brancos, realmente escutaram nossas palavras, as palavras do povo da floresta?
Davi Kopenawa Yanomami, Presidente da Hutukara Associação Yanomami (HAY)”
Em 04 de março de 2016, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulgou estudo sobre contaminação por mercúrio na Terra Indígena, revelando que os povos das etnias Yanomami e Ye’kwana têm sido extremamente atingidos, principalmente mulheres e crianças, pela contaminação por subprodutos do mercúrio metálico.
O estudo “Avaliação da Exposição Ambiental ao Mercúrio proveniente da Atividade Garimpeira de Ouro na Terra Indígena Yanomami, RR, Amazônia, Brasil” foi realizado em parceria com a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-RJ), Instituto Socioambiental (ISA), Hutukara Associação Yanomami (HAY) e Associação do Povo Ye’kwana do Brasil (APYB).
De acordo com o pesquisador-responsável Paulo Basta, em entrevista ao Informe ENSP, da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca, a equipe visitou 19 aldeias na TI Yanomami, sendo 15 na região de Paapiú e quatro na região de Waikás. Essas regiões foram selecionadas por indicação da Hutukara, em razão da crescente invasão de garimpeiros. Ao todo, foram avaliados 239 indígenas no período de 16 de novembro de 2014 a 03 de dezembro de 2014.
Veja algumas informações citadas na entrevista:
- Foram observados diferentes níveis de exposição ao mercúrio (Hg) na comparação entre as duas regiões. Na região do Paapiú, a mediana foi 3,2 μg.g-1, enquanto na região de Waikás, foi 5,0 μg.g-1. Foram registradas concentrações alarmantes de mercúrio na aldeia de Aracaçá, na região de Waikás, situada próximo à área de garimpo, onde a mediana foi 15,5 μg.g-1, sendo 6,8 μg.g-1 nas crianças menores de cinco anos e 16,0 μg.g-1 nas mulheres em idade reprodutiva.
- Entre crianças menores de cinco anos, foram registradas prevalências de mercúrio no cabelo acima de 6 μg.g-1 de 4,9%, 25,0% e 66,6%, no Paapiú, entre os Ye’kwana, de Waikás, e entre os Yanomami, de Aracaçá, respectivamente. Já entre os adultos, a prevalência de níveis de mercúrio no cabelo foi de 9,3% no Paapiú, 31,6% entre os Ye’kwana, de Waikás, e chegou a 100% entre os Yanomami, de Aracaçá. Nessa localidade, praticamente todos os indígenas adultos avaliados apresentaram níveis elevados de mercúrio (Hg) no cabelo.
- Os achados mencionados demonstraram que os mais altos níveis de Hg foram encontrados na aldeia de Aracaçá, no Polo Base de Waikás, onde havia grande número de balsas clandestinas de garimpo por ocasião da realização do trabalho de campo. Para ilustrar a situação, num trecho de aproximadamente 15 minutos sobrevoando a região, 47 balsas foram avistadas no entorno de Aracaçá, aldeia isolada do conjunto das aldeias de Waikás, e de dimensões geográficas e populacionais menores.
O pesquisador Paulo Basta também explica que o mercúrio é um metal pesado altamente tóxico, cujos danos costumam ser graves e permanentes: pode causar alterações diretas no sistema nervoso central, gerando problemas de ordem cognitiva e motora, perda de visão, além de implicações renais, cardíacas, no sistema reprodutor, entre outras debilidades.
Nas gestantes, os danos são ainda mais graves, pois o mercúrio atinge o feto, podendo causar malformações, retardo no desenvolvimento, entre outras complicações que podem comprometer toda uma geração de indígenas. No relatório da referida pesquisa, alerta-se que, no caso da Terra Indígena Yanomami, a contaminação pode ser classificada como crônica se baseada nas pesquisas de Bruce Albert sobre a invasão garimpeira desde a década de 1980.
A pesquisa destacou também que, segundo dados do Instituto Socioambiental (ISA), existiam no Brasil informações sobre 104 processos titulados e 4.116 interesses de mineradoras que incidem sobre 152 Terras Indígenas, até 2016. De acordo com o G1, além dos resultados apresentados nas comunidades, os pesquisadores também devolveram as amostras de cabelos usadas na pesquisa, adequando o protocolo ético às demandas dos próprios Yanomami.
A partir de 2016, com a destituição da presidenta Dilma Rousseff, assume seu vice, Michel Temer, como presidente interino, nomeando políticos considerados anti-indígenas para cargos de ministros, como Blairo Maggi (PP-MT), na pasta da Agricultura – na época o maior plantador de soja do mundo -, e Romero Jucá (PMDB-RR), ex-presidente da Funai e senador abertamente favorável à mineração em terras indígenas, na pasta do Planejamento.
Em 25 de maio de 2016, a BBC Brasil publicou notícia sobre a reação dos Yanomami ao saberem que o então senador Romero Jucá (PMDB-RR) fora nomeado ministro. Segundo a publicação, xamãs e lideranças do povo Yanomami recorreram aos “espíritos da natureza para pressionar a alma” do político e tentar fazê-lo desistir do posto, como contou o jovem líder Dário Kopenawa Yanomami.
Segundo seu povo, ele é considerado o “maior inimigo dos povos indígenas do Brasil” devido a seu histórico de atuação contra as demandas indígenas na Funai e no Congresso Nacional. A reportagem da BBC Brasil cita ainda o relatório da Comissão Nacional da Verdade, divulgado em 2015, que afirma que Jucá, como presidente da Funai, empreendeu diversas ações funestas contra os interesses dos Yanomami, conforme relatado aqui.
O político acabou sendo afastado após vir à tona uma gravação de áudio em que propunha um pacto para derrubar a presidenta Dilma Rousseff e criar obstáculos à “Operação Lava Jato”, que supostamente envolvia delegados da Polícia Federal, procuradores e juízes no combate à corrupção em empresas e outros setores da administração pública.
Como posteriormente foi revelado pela série de reportagens do portal The Intercept Brasil, intitulada “Vaza Jato”, o grupo responsável pela operação também trabalhou politicamente em benefício de interesses próprios e de aliados nacionais e internacionais.
Em 20 de junho de 2016, a Agência Pública divulga levantamento, com base em dados do Instituto Socioambiental (ISA) e do DNPM, mostrando que as mineradoras cada vez mais pressionavam os territórios indígenas do Brasil. Além do garimpo ilegal, a TI Yanomami era campeã em requerimentos minerários, com 534 pedidos de pesquisa para exploração em suas terras, segundo levantamento do Instituto Socioambiental (ISA).
O estudo relembra que a mineração em terras indígenas está prevista no artigo 231 da Constituição Federal, mas só pode ser exercida se regulamentada por legislação específica, ainda inexistente. Por isso, qualquer atividade minerária em TIs é, até segunda ordem, considerada ilegal.
Além disso, alerta sobre o risco de aprovação do PL 1.610/1996 (de autoria de Jucá), que faria da mineração uma atividade legal nas terras indígenas mediante consulta e repasse de uma porcentagem dos lucros aos indígenas.
Entre os dias 21 e 23 de junho de 2016, a Associação das Mulheres Yanomami (Kumirãyõma) realizou a primeira assembleia em Maturacá, reunião histórica segundo a Federação das Organizações Indígenas do Rio Negro (Foirn).
Cerca de 60 participantes, entre lideranças locais, jovens, crianças e, especialmente, as mulheres Yanomami das comunidades de Nazaré, Ayarí e da comunidade local, debateram temas de interesse, tais como o fortalecimento da participação das mulheres Yanomami no movimento indígena do Rio Negro, a inclusão dos conhecimentos relacionados à confecção de artesanatos no espaço escolar e, principalmente, sua contribuição nas ações de sustentabilidade e geração de renda para as comunidades.
Em 21 de abril de 2017, em novo retrocesso da política indigenista nacional, ainda no governo Temer, a Funai suspendeu as atividades de cinco das 19 Bases de Proteção Etnoambiental (Bape) às comunidades indígenas isoladas e de recente contato. De acordo com a Folha de São Paulo, o órgão foi pressionado pelos seguidos cortes orçamentários e pela extinção de 87 cargos em comissão realizada após a reestruturação administrativa realizada por Temer.
As Bases de Proteção Etnoambiental (Bapes) são vinculadas às 11 Frentes de Proteção Etnoambiental (FPE) da Funai e têm a dupla função de monitorar e proteger povos indígenas isolados e assegurar os direitos de etnias de recente contato com a sociedade nacional, uma vez que, na maioria das vezes, elas não estão suficientemente informadas sobre a legislação indigenista – algumas sequer contam com integrantes bilingues para traduzi-la – para que possam se autorrepresentar jurídica e administrativamente face ao Estado e à sociedade brasileira, conforme prevê a Constituição Federal de 1988.
Trata-se de uma exceção, já que a autorrepresentação dos povos indígenas, segundo seus costumes e organização social própria, é a regra geral vigente. Com a medida, funcionários e equipamentos foram retirados dessas cinco bases.
A Folha de São Paulo acrescenta que, em março de 2017, com a extinção de cargos, 51 Coordenações Técnicas Locais foram fechadas, das quais três eram ligadas às FPEs: uma na Terra Indígena Uru-Eu-Wau-Wau (RO) e duas na Terra Indígena Yanomami (RR). Impossibilitada de custear transporte e alimentação de seus servidores, a Funai teve de abandonar a Operação Curaretinga 9, feita em coordenação com outros órgãos e lideranças Yanomami.
O objetivo da operação era desestruturar a logística do garimpo com a apreensão e a inutilização de equipamentos usados na lavra, como balsas, motores, dragas e mangueiras, além de materiais de suporte, como combustíveis, botijões de gás, geradores, motores de popa e voadeiras.
Em outubro de 2017, o MPF em Roraima fez um alerta de ameaça de genocídio do povo isolado Moxihatëtëmathëpë pelo avanço do garimpo e moveu uma Ação Civil Pública (ACP), com pedido de liminar, contra a União, a Fundação Nacional do Índio (Funai) e o Estado de Roraima.
O MPF justificava:
“Para que sejam tomadas as medidas necessárias ao pronto restabelecimento das atividades permanentes nas Bases de Proteção Etnoambiental (Bapes) das terras indígenas Yanomami […] com fornecimento de recursos materiais e humanos necessários para fiscalizar e inibir a ação de garimpeiros nas comunidades, bem como garantir o bem-estar da população local e a preservação dos recursos naturais das terras indígenas”.
Conforme apurado nas investigações do MPF, nas imediações da Bape Serra da Estrutura, o avanço do garimpo ameaçava a existência de população isolada voluntariamente do contato com a sociedade, havendo temor de novo genocídio.
Segundo o MPF:
“A permanência de não índios nestes locais, exercendo garimpo ilegal, viola o usufruto exclusivo dos indígenas, ocasiona graves interferências em seu modo tradicional de vida, transmissão de doenças – como a malária e DSTs –, exploração sexual, desorganização social, além de prejuízo à paz da comunidade, especialmente de grupos isolados ou com pouco contato com não índios. Trata-se de atividade evidentemente ilícita, que deve ser combatida pelo poder público”.
Em 14 de março de 2018, o Conselho Indígena de Roraima (CIR) denunciou o caso por meio de carta elaborada durante a 47ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, no Centro Regional do Lago Caracaranã, onde mais de 3 mil indígenas manifestaram repúdio ao garimpo ilegal na TI Yanomami.
“Garimpo só traz morte e destruição! Queremos a rejeição do PL 1610/96 de autoria do Senador Romero Jucá. Esse projeto é ruim para os povos indígenas, pois não estabelece salvaguardas e não garante o direito à consulta aos povos indígenas. Nossa assembleia denuncia que os garimpos têm trazido a poluição dos rios, a degradação do meio ambiente, contaminação por mercúrio, e afeta a saúde indígena.
Os efeitos vão além da TI Yanomami, uma vez que garimpeiros entram pela terra indígena Boqueirão, e a contaminação por mercúrio que ocorre ao rio Uraricoera atinge outras comunidades indígenas que utilizam das águas do rio para seu consumo”.
Em 14 de julho de 2018, confirmando as denúncias feitas durante a assembleia de março, um surto de sarampo avançou entre indígenas Yanomami na fronteira entre Brasil e a Venezuela. O G1 noticiou na época que “67 casos de sarampo foram confirmados entre índios Yanomami, segundo o DSEI-Y. Ao todo, 90% dos casos são em indígenas venezuelanos”.
Segundo Rousicler de Jesus Oliveira, coordenador do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y), o avanço no número de casos era preocupante, e estava diretamente relacionado à baixa vacinação entre os indígenas venezuelanos. Há relatos de que muitos caminhavam por vários dias para cruzar a fronteira e buscar atendimento médico no Brasil.
Em 24 de julho de 2018, a Hutukara Associação Yanomami divulgou nota sobre a epidemia de sarampo na Venezuela, publicada abaixo:
“1 – Neste semestre a Hutukara tomou conhecimento do agravamento das condições de saúde indígena em área de fronteira com a Venezuela, em decorrência dos problemas que o país enfrenta.
2 – O DSEI Yanomami enviou o servidor Matheus Ricardo Sanuma, Assessor Indígena, para a comunidade Õkiola para averiguar in loco tal situação. O servidor do DSEI Y retornou informando que na comunidade de Irotha, possivelmente localizada na Venezuela, morreram 14 pessoas por doenças. Segundo ele, os sobreviventes dessa comunidade teriam chegado no Brasil em busca de atendimento de saúde, em um local denominado Xilipapiú, acessível via helicóptero a partir do Polo Base de Awaris.
3 – Neste contexto foi solicitado ao Coordenador do DSEI Yanomami informações sobre a situação de saúde na região. Foi relatado em coletiva no dia 13 de julho que há 67 casos de sarampo confirmados, 60 de Yanomami da Venezuela e 07 de Yanomami do Brasil, e uma morte de uma criança brasileira, com menos de um ano, que ainda não estava vacinada. Nos foi comunicado que o DSEI Y teria reforçado as suas equipes na região e estariam fazendo busca ativa para vacinação e tratamento dos doentes.
4 – Diante das informações divulgadas pela organização Wataniba, relatando epidemia em várias comunidades Yanomami no lado venezuelano na fronteira com o Brasil, e de um possível impacto epidemiológico catastrófico para a população Yanomami, solicitamos que sejam mantidas as medidas preventivas adotadas pelo DSEI Y para conter a contaminação e para cuidar dos Yanomami que chegam da Venezuela.
5 – Dada a gravidade da situação frente à vulnerabilidade do povo Yanomami e a situação alarmante na Venezuela, ressaltamos que consideramos a cobertura de 80% da população atendida pelo DSEI Yanomami insuficiente e pedimos, portanto, reforço para a imunização de 100% da população, continuação das medidas de atenção e preventivas adotadas na região do Polo Base de Awaris e urgente diálogo com autoridades de saúde venezuelanas, reforçando as vias de diálogo com organização como a OEPA, para entender melhor os locais mais críticos na fronteira e com o fim de possível colaboração bilateral entre os dois países.
Dário Vitório Kopenawa Yanomami, Vice-Presidente – HAY”.
Além da preocupação sanitária com a epidemia, os Yanomami ainda enfrentavam novos conflitos com garimpeiros. Em 30 de julho de 2018, o Conselho Indígena de Roraima (CIR) divulgou nota de repúdio a ataque ao povo Yanomami do grupo isolado Moxihatëtëmathëpë, solicitando providências urgentes às autoridades brasileiras.
O ataque provocou mortes na Serra da Estrutura, na Terra Indígena Yanomami (TIY), de acordo com a CARTA/HAY Nº 051/2018, enviada ao Presidente, Funai, MPF e à Superintendência da Polícia Federal de Roraima, segundo a qual os homicídios ocorreram no mês de maio, quando um garimpeiro roubava a roça dos Moxihatëtëmathëpë, de acordo com a assessoria indígena do Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y).
“A equipe de saúde do DSEI-Y teve conhecimento do caso durante uma reunião realizada em 18 de julho na região do Alto Catrimani, invadida por centenas de garimpeiros. Na ocasião, jovens yanomami relataram que ouviram dos próprios garimpeiros sobre o conflito e as mortes, e repassaram para a equipe de saúde”, registra a Carta.
Segundo a Hutukara Associação Yanomami (HAY), o grupo isolado possuiria aproximadamente 80 pessoas na Serra da Estrutura e era acompanhado pela Funai. O grupo correria graves riscos de sobrevivência, pois na região havia atividades garimpeiras a menos de 5 km da casa coletiva.
A base de proteção, criada em 2012, estava abandonada desde 2015, quando garimpeiros passaram a controlar o local, utilizando-se tanto da estrutura (prédio) quanto da pista de pouso, que agora servia de apoio às atividades ilícitas.
A Carta registra ainda que os Yanomami da região do Alto Catrimani também solicitavam que as autoridades brasileiras retirassem imediatamente os garimpeiros, pois “eles estão matando os Moxihatetea, também estão poluindo o nosso rio e prejudicando a nossa saúde, deixando grande impacto ambiental no nosso território”, afirmou liderança da região (CARTA/HAY N° 051 /2018).
Em 15 de novembro de 2018, a Polícia Federal prendeu novamente, em Roraima, o garimpeiro Pedro Emiliano Garcia, condenado em 1996 pelo Massacre de Haximu e, desde então, incriminado diversas vezes por atos contra os Yanomami. De acordo com a Folha de São Paulo, a prisão foi decretada em setembro como parte da operação conjunta do Exército, Polícia Federal (PF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e outras agências federais e estaduais contra o garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami.
No ano de 2018, especialmente a partir do segundo semestre, com o acirramento da campanha presidencial, movimentos sociais e associações indígenas passaram a denunciar discursos do então candidato a presidente Jair Bolsonaro pelos conteúdos em relação aos direitos humanos, especialmente em relação aos direitos indígenas.
Em reportagem do El País, Sonia Guajajara – membro da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) e então candidata a vice-presidenta pelo Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) na chapa encabeçada por Guilherme Boulos – falou sobre as declarações do então candidato a presidente, que “já têm trazido uma agenda muito destrutiva para os indígenas. Ele está de olho em regiões ricas em minério. Tanto que falou dos Yanomami”.
Ela se referia a uma postagem de 2015 na rede social Twitter em que o então deputado federal Bolsonaro criticou o fato de que 9 mil indígenas da etnia Yanomami tinham demarcada uma área equivalente a duas vezes o Estado do Rio de Janeiro na Amazônia.
Discursos como esse ecoam o senso comum de que supostamente haveria “muita terra para pouco índio”, recorrentes entre aqueles que compactuam com uma agenda política anti-indígena, especialmente quando alinhados com interesses ligados ao agronegócio e à mineração.
Desconsideram a territorialidade específica de cada povo indígena, seus sistemas agroalimentares, suas cosmovisões e conexão a certos rios e florestas, seus direitos originários assegurados pela Constituição Federal de 1988 e o papel que tais áreas protegidas hoje exercem na sustentabilidade da Amazônia.
Em 21 de novembro de 2018, o MPF conseguiu liminar para reinstalação das Bapes da TI Yanomami. Como informado pelo órgão, a medida era considerada prioritária para o combate ao garimpo ilegal e conservação das comunidades indígenas naquele território. De acordo com a decisão da 1ª Vara Federal da Justiça Federal de Roraima, os órgãos teriam um prazo de 60 dias para apresentar um plano de restabelecimento das bases e de fiscalização e repressão ao garimpo.
Depois de feito o documento, os órgãos teriam 120 dias para reabrir as bases nos locais definidos, com estrutura e pessoal necessários. O Estado de Roraima também foi obrigado a disponibilizar, em situações emergenciais, força policial para auxiliar nas atividades de fiscalização e repressão ao garimpo na terra indígena.
Em 22 de março de 2019, agora sob a presidência do recém-eleito Jair Bolsonaro, o ISA denunciou que a Terra Indígena Yanomami continuava a sofrer com o crescimento do garimpo. Na ocasião, segundo o Instituto, havia entre 6 e 7 mil garimpeiros retirando ouro ilegalmente na TIY. Era o maior número registrado até aquele momento.
O garimpo ilegal havia se intensificado nos meses anteriores, e “explodiu” em janeiro, depois que o Exército Brasileiro desativou as bases de proteção nos Rios Uraricoera e Mucajaí, principais entradas para a Terra Indígena.
Segundo o ISA, a presença do Exército era fundamental para inibir a entrada de garimpeiros, tendo sido, em 2018, responsável pela retirada de mais de 1.500 deles do rio Uraricoera. Porém, desde dezembro, com o abandono das bases, os garimpeiros retomaram a invasão em ritmo acelerado.
Apesar da redução do número de requerimentos minerários, se comparados com aqueles registrados em 2016, o território indígena permanecia o mais cobiçado por mineradoras no Brasil, que esperavam a regulamentação do dispositivo constitucional que asseguraria a mineração nessas áreas.
Enquanto a exploração minerária em áreas protegidas, incluindo Terras Indígenas, não é regulamentada, esses requerimentos são indevidamente arquivados quando chegam à Agência Nacional de Mineração (ANM), quando deveriam ser sumariamente negados e recusados, de acordo com leis e decisões judiciais.
Ao todo, o levantamento do ISA identificou 4.250 requerimentos minerários incidentes nas TIs. Mais de 90% desses processos são requerimentos de pesquisa e envolvem a solicitação para a exploração de ao menos 66 minerais, metais e pedras preciosas. O ouro é o principal minério em requerimentos incidentes em Terras Indígenas.
No caso da TI Yanomami, as empresas anseiam pela exploração do ouro no solo e rios do território, e os requerimentos englobam cerca de 43% do território, inviabilizando, assim, o modo de vida yanomami e, se aprovados, justificariam a tão cobiçada demarcação em ilhas, proposta desde o período do Regime Militar, já que as áreas sob exploração minerária se tornariam indisponíveis ao usufruto indígena, ainda que formalmente eles permanecessem com direito a elas (ISA,2019).
Em 17 de abril de 2019, o Instituto Socioambiental divulgou que o então presidente Jair Bolsonaro defendeu mais uma vez a abertura da mineração em Terras Indígenas, além da monocultura extensiva, alegando que indígenas seriam “pobres em territórios ricos”. Dois dias depois, lideranças Yanomami e Ye’kwana reafirmaram, em vídeo e carta assinada pelas principais associações desses povos, sua posição contra o garimpo e a mineração em seu território, reforçando que, ao contrário do que Bolsonaro dizia, os Yanomami não eram pobres, pois tinham uma vida rica em meio à floresta. O vídeo pode ser assistido em: https://bit.ly/3yVjwoV.
“O senhor fala que o Yanomami está passando fome e sofrendo. Nós, Yanomami, ninguém está sofrendo. Ninguém está passando fome”, afirma Davi Kopenawa Yanomami.
As Comissões de Direitos Humanos e Minorias, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados fizeram, no dia 26 de novembro de 2019, audiência pública para debater o papel do Estado no enfrentamento do crime organizado que atua no garimpo ilegal de ouro dentro da Terra Indígena Yanomami e as consequências sobre esse povo.
De acordo com Pedro Calvi, em reportagem republicada no Instituto Humanitas Unisinos (2019), após a demarcação da TI Yanomami, em 1992, a Polícia Federal fez uma série de operações contra a invasão de garimpeiros que colocavam em risco a sobrevivência dos indígenas. No entanto, a falta de um plano de proteção e fiscalização para a maior terra indígena do País possibilitou que os garimpeiros ilegais se organizassem, operando em redes de organizações criminosas no ritmo da cotação do ouro.
O Fórum Yanomami-Ye’kuana também denunciou, na audiência, ações violentas dos garimpeiros, como estupro e aliciamento de indígenas para a exploração criminosa dos garimpos. A Funai anunciou na época a liberação de cerca de R$ 700 mil do Orçamento da União para a reativação das Bases de Proteção Etnoambiental (Bape) na TI Yanomami.
Em 11 de dezembro de 2019, o MPF recomendou à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e ao Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena (Dsei) Yanomami ações para prevenir e combater um surto de malária entre a população. O documento da Recomendação Legal (Nº 10/2019) expõe que faltavam medicamentos específicos para tratamento da malária na TI, conforme relatado por lideranças do referido povo em reunião no dia 05 de dezembro de 2019, à Secoya, à Foirn e ao MP do Estado do Amazonas.
Acrescentam que a ausência de ações de prevenção por parte dos órgãos responsáveis pelo atendimento em saúde agravou as consequências da crescente incidência de casos da doença na região dos rios Marauiá, Cauaburis, Ayari e Demeni, localizados na TI.
Dentre as recomendações, constavam:
“I – providencie a disponibilização suficiente de medicamentos específicos para tratamento de malária (como cloroquina, primaquina, entre outros), considerando os surtos relatados da doença, e o atendimento por equipe multidisciplinar nas comunidades indígenas Yanomami dos rios Marauiá, Cauaburis, Ayari e Demeni (municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira/AM);
II – implemente ações efetivas e adequadas de prevenção e erradicação dos vetores de malária nas comunidades dos rios Marauiá, Cauaburis, Ayari e Demeni, nos municípios de Santa Isabel do Rio Negro, Barcelos e São Gabriel da Cachoeira/AM (como fumigação, controle biológico, instrução e capacitação de agentes de combate de endemias, entre outros, de acordo com as necessidades locais), em articulação com FVS/AM (Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas) e Prefeituras municipais citadas, se necessário;
III – disponibilize os kits e instrumentos suficientes aos agentes indígenas de saúde, sanitários, microscopistas, com capacitação adequada e periódica, de maneira a possibilitar a realização dos exames (lâminas e análise) e demais atos necessários para a identificação rápida e eficiente da doença (informando cronograma de capacitação para o ano de 2020 no prazo assinalado de 15 dias)”.
O documento requereu ainda que o DSEI Yanomami informasse as medidas adotadas para o ano de 2020 referentes à capacitação dos demais servidores não indígenas contratados; entre eles, técnicos de enfermagem, enfermeiros e médicos.
Além de todas as dificuldades enfrentadas pelos indígenas para conter os sucessivos surtos de sarampo, malária, entre outras doenças, outra ofensiva se deu na Terra Indígena ao longo de 2019: um novo período de invasão descontrolada de garimpeiros ilegais nos territórios ancestrais dos Yanomami.
De acordo com o portal Amazônia Real (2020), naquele ano o número de garimpeiros invasores saltou de 7 mil para 20 mil pessoas. Desde 1992, ano em que a TI foi demarcada, foi a maior invasão já registrada em um único ano. Os indígenas tentaram combater as ameaças aos seus territórios com vigilância territorial e expulsão dos invasores a partir de estratégias próprias, além de denúncias feitas às autoridades públicas.
Entretanto, o governo de Jair Bolsonaro continuou reforçando o discurso de que as terras indígenas precisavam ser abertas e capitalizadas para gerar lucro, e que os indígenas deveriam ser incorporados às atividades de garimpo e mineração. Além de declarar, sem considerar todas as denúncias feitas pelos Yanomami até aquele momento, que “os próprios indígenas querem trabalhar no garimpo”, como se fosse uma demanda generalizada dos Yanomami.
Tais discursos foram proferidos durante a inauguração de uma ponte de madeira dentro da TI Yanomami, ligando o município de São Gabriel da Cachoeira (AM) a comunidades indígenas em Maturucá, um dos locais que mais sofrem com o garimpo, facilitando a chegada de garimpeiros e mineradores na região. Além disso, o executivo federal descumprira duas decisões do STF que obrigavam o governo a promover a desintrusão dos garimpeiros e outros não indígenas durante a pandemia de covid-19, incluída a TI Yanomami (BRASIL DE FATO, 2022).
Ao longo de 2020, alguns acontecimentos graves acometeram os Yanomami, muitos deles associados à invasão garimpeira e à chegada da pandemia global provocada pelo coronavírus Sars-Cov-2.



O garimpo ainda era o foco principal das disputas naquele território. Cerca de um mês antes do registro oficial do primeiro caso de covid-19 em território brasileiro, em 06 de fevereiro de 2020, o jornal Brasil de Fato noticiou que o então presidente Jair Bolsonaro entregou ao Congresso Nacional o Projeto de Lei 191/2021, visando regulamentar a realização de pesquisas, exploração de minérios – inclusive de petróleo e gás – e a construção de hidrelétricas no interior de terras indígenas.
Ao anunciá-lo, o presidente tratava o PL como “a realização de um sonho”, afirmando: “O índio é um ser humano exatamente igual a nós. Tem coração, tem sentimento, tem alma, tem desejo, tem necessidades e é tão brasileiro quanto nós”, embora ele não tenha esclarecido como os direitos indígenas seriam respeitados diante dos interesses econômicos das mineradoras e garimpeiros.
A estratégia de Bolsonaro, de acenar a um suposto “bem-estar” indígena como meio de legitimar um projeto que atendia principalmente a interesses não indígenas, fez com que a Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) emitisse nota de repúdio, classificando as motivações do presidente como manifestações de ódio e racismo.
“O P.L. 191/20 é totalmente usurpador, autoritário, neocolonialista, violento, racista e genocida, sobretudo no que diz respeito aos povos indígenas voluntariamente isolados e de recente contato. O P.L. retoma uma perspectiva etnocida e genocida contra os povos indígenas, na contramão do que preconiza a Constituição Federal em seus artigos 231 e 232, e tratados internacionais, pois, além de propor a desestruturação das políticas de proteção, descaracteriza os territórios já regularizados e sinaliza com a não demarcação de novos territórios.
Manifestamos nosso repúdio e contrariedade sobre o referido Projeto de Lei e seus impactos imprevisíveis. Unimo-nos à luta dos Povos Indígenas do Brasil, no apoio irrestrito aos seus direitos originários”.
Além do aumento em relação ao número de conflitos relacionados ao garimpo no território e aos impactos socioambientais gerados pelas atividades – como contaminação das águas dos rios por mercúrio, desmatamento, assoreamento, erosão do solo e outros -, essa invasão maciça representou, em 2020, uma porta de entrada ao covid-19 nos territórios Yanomamis, interiorizando a propagação de uma doença que se tornara pandêmica globalmente, inicialmente identificada nos centros urbanos mais conectados aos transportes intercontinentais (aeroportos internacionais, portos, ferrovias, hidrovias etc).
Assim, o alastramento da doença entre os indígenas Yanomami intensificou uma situação de saúde coletiva já precária por outras epidemias anteriores e pela ineficácia da execução da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena (PNASI), bem como na geração de outros problemas de cunho social.
Segundo Dário Kopenawa, em entrevista ao Instituto Humanitas Unisinos – IHU (2020):
“Com a chegada dos garimpeiros, temos enfrentado muitos problemas sérios relacionados a assassinatos, prostituição, violência, danos ambientais e a contaminação dos nossos igarapés e rios grandes. A vida do povo Yanomami está muito prejudicada, porque a população está com muitos problemas sérios de saúde”.
Segundo relatório publicado pelo Instituto Socioambiental (2020), em 08 de abril de 2020, foi confirmado o 1º caso de covid-19 entre os Yanomami e, no dia seguinte, o jovem Alvanei Xirixana, de 15 anos, que estava contaminado, morreu. Ele era da comunidade Xirixana de Helepi, na região do rio Uraricoera, com alto número de invasores garimpeiros.
O jovem também estava com malária e buscava por atendimento médico, mas sem sucesso, vindo a falecer em Boa Vista (RR). Como estratégia de sobrevivência à contaminação pelo coronavírus, os indígenas passaram a se refugiar no interior da floresta, adentrando ainda mais as matas, como forma de evitar o contato com não indígenas infectados.
Conforme reportagem de Eliane Brum para o El País em junho de 2020, no mês anterior, três mulheres Sanöma, grupo que é parte do povo Yanomami e habita a aldeia Auaris, se dirigiram com seus bebês para a capital Boa Vista em busca de atendimento médico, pois as crianças estavam com suspeita de pneumonia. Já no , os bebês teriam sido contaminados por covid-19 e morreram. No entanto, ao invés de terem sido informadas sobre o falecimento de seus filhos, os corpos dos bebês desapareceram.
As mulheres Sanöma, que não entendem português, não souberam o que se passou com as crianças e nem com seus corpos. Suspeitou-se que as crianças haviam sido enterradas em cemitérios na capital, o que, conforme já explicitado em relação aos rituais funerários yanomami, tornou a medida sanitária uma questão interétnica complexa, pois impedia a cremação dos bebês, como é prescrito pela tradição yanomami.
O procurador da República em Boa Vista, Alisson Marugal, enviou ofício ao Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami (Dsei-Y) para obter informações sobre o paradeiro dos corpos
De acordo com relatos de Dário Kopenawa ao IHU (2020), muito tardiamente, as três mães Sanöma foram avisadas pelas autoridades que de fato seus bebês haviam sido sepultados no cemitério da capital, sem a anuência delas, numa evidente violação dos direitos daquele povo em um cenário em que a urgência de conter o avanço da epidemia de covid-19 e a histórica negligência do SUS em relação às especificidades culturais indígenas contribuíram conjuntamente para o ocorrido.
Em 12 de junho de 2020, ocorreu mais um incidente lamentável para os Yanomami: o assassinato de dois jovens indígenas na região da Serra do Parima, município de Alto Alegre/RR. Segundo o portal Amazônia Legal (2021), o assassinato duplo reacendeu a memória do Massacre de Haximu, que em 1993 vitimou 16 Yanomami. Os jovens mortos foram Original Yanomami, de 24 anos, e Marcos Arokona Yanamami, de 20.
Segundo relatos de testemunhas, momentos antes do assassinato, um helicóptero se movimentava nas proximidades da comunidade Xaruna. Por essa razão, os dois jovens saíram em grupo para verificar o que estaria ocorrendo e, ao se aproximarem, viram garimpeiros perfurando o solo com ferros. Ao perceberam a presença do grupo, os garimpeiros fizeram disparos de espingardas e mataram a primeira vítima. Os indígenas, então, passaram a perseguir os invasores, quando eles atiraram novamente e atingiram a segunda vítima.
Dias depois dos dois assassinatos, em 19 de junho de 2020, indígenas Yanomami da região do Alto Mucajaí, em Roraima, destruíram um avião de pequeno porte que estaria voltando de uma área de garimpo e que acabou pousando numa pista próxima à comunidade. Os indígenas detiveram o piloto e o entregaram às autoridades (AMAZÔNIA LEGAL, 2021).
No dia 03 de julho de 2020, o Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), por meio do desembargador Jirair Aram Meguerian, fixou prazo de 15 dias para que o governo federal elaborasse um plano emergencial incluindo a retirada dos garimpeiros da região, de modo a combater o alastramento do coronavírus.
Segundo o G1 (2020), a exigência do TRF-1 era de que o plano fosse elaborado conjuntamente com a Funai, o Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMbio), contendo as seguintes medidas: definição de equipes fixas para o combate ao garimpo em pontos estratégicos da TI Yanomami; efetivo de pessoal adequado para ações de repressão e investigações; disponibilização de alimentos, insumos, serviços e equipamentos; realização de relatórios, a cada 15 dias, para comprovar que a determinação judicial está sendo cumprida; garantia de imediata retirada de todos os garimpeiros não indígenas; cumprimento de medidas sanitárias para não agravar o risco de contaminação por covid-19 e outras doenças na região.
Nesse mesmo dia 03, o líder Yanomami Dário Kopenawa e a então deputada federal Joênia Wapichana (Rede/RR), coordenadora da Frente Parlamentar em Defesa dos Povos Indígenas, foram recebidos pelo vice-presidente Hamilton Mourão, também presidente do Conselho Nacional da Amazônia Legal (Conamaz), em Brasília.
Mourão prometeu a retirada dos garimpeiros da região, mas sem se comprometer a fazê-lo imediatamente (AMAZÔNIA REAL, 2020). Na reportagem da Amazônia Real, ele afirma: “Tirar garimpeiros de lá não é a mesma coisa que tirar camelô da Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro”.
Ao longo do segundo semestre de 2020, a Hutukara Associação Yanomami (HAY) realizou uma campanha para assinatura de uma petição pública, coordenada por organizações indígenas e pelo ISA, visando coibir a entrada de garimpeiros nas TIs, especialmente devido à pandemia de covid-19.
A campanha, que recebeu o nome de “Fora Garimpo, Fora Covid”, tinha como objetivos alertar para a condição de descontrole do garimpo ilegal e da doença no território, e proteger a vida dos Yanomami e dos Ye’kwana.
Além da exploração mineral com a utilização de mercúrio – substância tóxica para a saúde humana – e da propagação de doenças, os Yanomami e os Ye’kwana se preocupavam com impactos sociais em seus territórios como a violência social e a prostituição, que proliferavam e acometiam principalmente as mulheres, conforme o portal Amazônia Real (2019).
Um vídeo de divulgação sobre a campanha “Fora Garimpo, Fora Covid”, que recolheu quase 440 mil assinaturas e gerou um relatório entregue ao Congresso Nacional, pode ser assistido aqui: https://bit.ly/3vRaC7Z.
No dia 02 de setembro de 2020, segundo consta no site do Exército Brasileiro, tropas da 1ª Brigada de Infantaria de Selva (1ª Bda Inf Sl), durante fiscalização da Operação Verde Brasil 2, realizou apreensões dentro de uma fazenda em (RR), utilizada na logística da atividade ilegal de garimpo. Os aviões se encontravam em uma pista clandestina, com pousos e decolagens em direção à TI Yanomami.
A operação foi acompanhada por agentes do ICMBio, policiais militares de Roraima e fiscais da Fundação Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima (FEMARH). Foram apreendidos quatro aviões condições de voo, uma carcaça de avião em condições razoáveis, duas carcaças de avião em péssimo estado, um avião de pequeno porte em construção e uma grande quantidade de peças de avião.
Em setembro de 2020, o portal Amazônia Real noticiou que os indígenas Yanomami voltaram a apresentar alta incidência de malária, doença endêmica na região que potencializava o risco de morte pelo coronavírus. Se, em 2019, já haviam sido notificados 16.478 casos de malária entre os indígenas, entre janeiro e agosto de 2020 foram notificados 13.733 casos e nove mortes, segundo informações do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami (Condisi-YY).
Na região polo base Marauiá, próxima à TI Yanomami, a taxa de incidência de malária naqueles últimos meses foi considerada altíssima pelas autoridades de saúde, com cerca de 700 casos a cada mil habitantes, um número alarmante, dado que a população da região é de 2.536 pessoas.
A Rede Pró-Yanomami e Ye’kwana, que vem realizando o monitoramento da pandemia da covid-19 na TI, apontou que, de abril a agosto de 2020, ocorreram 17 mortes pela doença, das quais oito foram confirmadas e outras nove permaneciam suspeitas, segundo dados publicados pelo ISA (10/09/2020). lembrar que o primeiro caso de covid-19 foi registrado na região do rio Uraricoera, onde há a principal entrada de garimpeiros ilegais no território yanomami.
Os garimpeiros, portanto, eram considerados pela Rede como os principais propagadores de doenças infecciosas para os indígenas da região. Por outro lado, segundo o presidente do Condisi , Junior Hekurari Yanomami, o Ministério da Saúde não estava cumprindo com as obrigações de levar medicamentos e profissionais da saúde às aldeias, pois estava sem contrato com empresas aéreas que realizavam o translado dos materiais e do pessoal.
De acordo com o portal Amazônia Real, no dia 29 de outubro de 2020, a Polícia Federal deflagrou a Operação Ábdito, com o objetivo de cumprir mandados de prisões temporárias e buscas e apreensões contra garimpeiros suspeitos de envolvimento nas mortes dos dois jovens indígenas em junho de 2020.
O principal acusado dos crimes é o reservista Eurivan Farias Lima, maranhense de 36 anos, cuja prisão fora decretada, mas encontrava-se foragido. No mesmo mês, o MPF conseguiu liminar determinando que a União procedesse à retirada de garimpeiros ilegais da região, que estariam contribuindo para o alastramento da pandemia do coronavírus entre os povos indígenas.
Em 26 de novembro de 2020, também segundo o Amazônia Real, a Polícia Federal em Roraima deflagrou a “Operação Rêmora”, responsável por investigar suspeitos de envolvimento no garimpo ilegal na TI Yanomami.
Foram expedidos pela 1ª Vara da Justiça Federal em Roraima três mandados de busca e apreensão contra um garimpeiro e outros dois suspeitos de atuar no recrutamento e gerenciamento de garimpeiros e mergulhadores para realizar a exploração, bem como auxiliando no envio de insumos para abastecer a região. A operação já havia apreendido, na capital Boa Vista, ouro escondido, dinheiro, anotações sobre os garimpos e peças de maquinário de exploração e mercúrio.
De acordo com relatório intitulado “Xawara: rastros da covid-19 na Terra Indígena Yanomami e a omissão do Estado”, organizado pelo ISA em parceria com a Rede Pró-Yanomami e Ye’kwana e com a HAY, os casos da doença aumentaram 250% entre agosto e outubro de 2020, saltando de 335 notificações para cerca de 1.200.
Além disso, o relatório aponta os garimpeiros como principais propagadores do coronavírus, assim como a própria Casa de Saúde Indígena (Casai), do Dsei-Y, que se tornou foco de contaminação devido à das instalações do local e da crônica falta de pessoal e equipamentos de proteção individual no próprio Dsei.
No gráfico abaixo, pode-se acompanhar a progressão de casos de coronavírus e de óbitos em decorrência da doença entre os Yanomami e Ye’kwana ao longo de 2020.
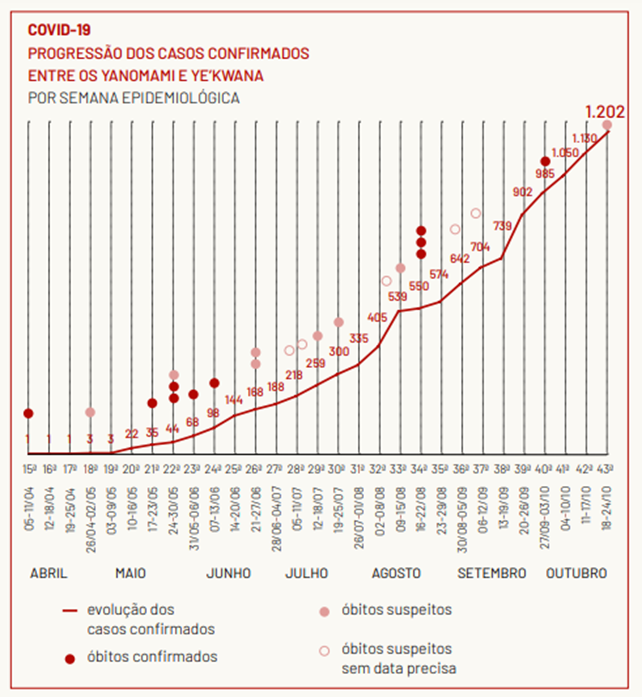
No mês de dezembro de 2020, uma adolescente Yanomami foi sequestrada por garimpeiros na região da Serra das Surucucus. Segundo apontado no relatório “Cicatrizes na Floresta – Evolução do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami (TIY) em 2020”, o sequestro da jovem se deu para fins de exploração sexual.
Além do assassinato dos dois jovens relatados em junho, o relatório aponta ainda para o aumento do assédio contra mulheres indígenas, ocasionado pela entrada dos garimpeiros ilegais, além de problemas de maior circulação de bebidas nas comunidades, ameaças e utilização de medicamentos destinados à saúde indígena pelos próprios garimpeiros. Todos esses fatores ampliavam a histórica situação de tensão social no território.
No dia 28 de janeiro de 2021, o portal G1 noticiou que um ofício do Conselho de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Condisi –YY) apontava que nove crianças haviam morrido com sintomas de covid-19, como febre e dificuldade para respirar, nas comunidades de Waphuta (4) e Kataroa (5), região da Serra das Surucucus, em Alto Alegre (RR).
O presidente do Condisi-YY recebeu via radiofonia o informe das mortes por meio de um agente de saúde e de um professor das comunidades no dia 26 e janeiro. Segundo o monitoramento da Rede Pró-Yanomami e Ye’kwana, até fevereiro de 2021, 32 Yanomami haviam falecido em decorrência da doença, apesar do número destoar daquele apontado pelo Sesai, que registrava oficialmente apenas 12 óbitos.
A Rede também notou que foram sete bebês com menos de dois anos acometidos fatalmente pela doença, estatística que diferia da média de idade dos mortos pela doença nacionalmente, que até aquele momento atingia com mais gravidade pessoas idosas ou com comorbidades (de quaisquer idades), tendo um desenvolvimento, em geral, benigno em crianças saudáveis (ainda que houvesse risco de desenvolvimento da chamada Síndrome Inflamatória Multissistêmica Infantil – SIM-P, um agravamento potencialmente fatal considerado raro pelos epidemiologistas).
Segundo a antropóloga Ana M. Machado, em entrevista ao Brasil de Fato (2021), a desnutrição e a malária entre os indígenas acabam se tornando fatores de acentuação do risco de morte, especialmente em crianças.
No dia 19 de fevereiro de 2021, o Supremo Tribunal Federal (STF), por meio do ministro Alexandre de Moraes, determinou que fosse suspensa a Lei estadual 1.453/2021, do estado de Roraima, que autorizava a exploração de minérios, especialmente de ouro, sem necessidade de elaboração de estudo prévio.
O próprio governador Antonio Denarium (eleito pelo PSL, mas na ocasião sem partido) havia sancionado o projeto em janeiro e apenas dois parlamentares do estado – Evangelista Siqueira (PT) e Lenir Rodrigues (Cidadania) – se opuseram à medida que, na prática, autorizaria o garimpo ilegal em Roraima. O projeto não levava em conta os impactos socioambientais provocados pelo uso de mercúrio nos garimpos, os desdobramentos negativos para as comunidades tradicionais do estado ou a própria Constituição Federal.
Em meio às várias tentativas legislativas de legitimar a atividade garimpeira, as tensões entre garimpeiros e indígenas se acirraram e, em 25 de fevereiro, um confronto resultou em um indígena ferido e um garimpeiro morto na comunidade Xirixana de Helepi. Segundo informações da HAY publicadas pelo G1, oito garimpeiros chegaram numa lancha e atacaram indígenas que estavam às margens do rio Uraricoera.
Um dos garimpeiros entrou na comunidade à procura de Ledimar, um indígena residente. O garimpeiro, então, atirou contra Ledimar, e o irmão mais novo dele, em defesa, utilizou um arco e flecha contra o garimpeiro, que morreu. Segundo Davi Kopenawa, essa comunidade é a primeira às margens do rio Uraricoera, no limite exterior da TI Yanomami, sendo, portanto, rota de entrada para o garimpo. Assim, a logística de abastecimento dos núcleos de exploração passa pela comunidade, que vem sofrendo assédios e ameaças dos garimpeiros ilegais (G1, 2021).
Em março de 2021, de acordo com o Amazônia Real (2021), foi publicado e lançado pela Hutukara, em parceria com a Associação Wanasseduume Ye’kwana, o relatório “Cicatrizes da Floresta”. A publicação aponta aumento substancial do garimpo ilegal no Território Yanomami, um crescimento de 30% e uma degradação de 2.400 hectares dentro do território, ameaçando inclusive grupos isolados, como os Moxihatëtëmathëpë, na região da Serra da Estrutura.
Apenas em 2020 foram 500ha destruídos por mais de 20 mil garimpeiros. A região do rio Uraricoera concentra mais da metade (52%) de toda a área degradada pelo garimpo identificada por sensoriamento remoto, segundo o levantamento.
O relatório também denuncia o aumento de casos de doenças no território, especialmente malária e covid-19, transmitidas pela circulação livre de garimpeiros. Sobre a malária, foram registrados 949 casos da doença até outubro de 2020, com forte incidência em Waikás (26,9% da população) e Kayanau (9,5%).
Nesse sentido, algumas recomendações foram feitas aos órgãos públicos e autoridades competentes, como: a elaboração urgente de um plano integrado de desintrusão total do garimpo na Terra Indígena Yanomami; a retomada de operações periódicas na terra indígena para destruição da infraestrutura clandestina instalada e o avanço das investigações para identificar e responsabilizar os agentes da cadeia do ouro ilegal.
No dia 17 de março de 2021, foi determinado pela Justiça Federal de Roraima que a União, a Fundação Nacional do Índio (Funai), o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apresentassem, em dez dias, um cronograma para a retirada dos invasores do território Yanomami, sob pena de multa diária de R$ 1 milhão.
O juiz federal Felipe Bouzada Flores Viana apontava risco de genocídio indígena caso nada fosse feito, dado que a população não indígena já era quase maior do que a indígena na região, podendo transformar a TI numa “nova Serra Pelada”. A decisão atendeu a um pedido realizado pelo Ministério Público Federal em Roraima (MPF/RR) e foi motivada também pelo falecimento de dez crianças Yanomami por covid-19.
O juiz afirmou que, se já tivessem sido tomadas medidas efetivas, tanto as crianças quanto outros indígenas que faleceram pela doença poderiam estar vivos. Mas, conforme apontava, não houvera, até aquele momento, medidas de proteção aos povos indígenas frente à expansão garimpeira (AMAZONIA LEGAL, 2021).
Durante o Festival Internacional de Documentários “É tudo verdade”, realizado de maneira virtual entre os dias 08 e 18 de abril de 2021, foi exibido, na sessão de encerramento, o longa-metragem “A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi. O filme, todo em idioma Yanomami, retrata a vida e os costumes dos povos Yanomami, além de abordar a presença ilegal de exploração de ouro no território.
Nas imagens, que em alguns momentos são acompanhadas por falas de Davi Kopenawa em off, o xamã tenta evocar e manter vivos os espíritos da floresta e as tradições indígenas, apesar de todo o cenário desolador de doenças e mortes trazidas pelos garimpeiros e não indígenas em geral.
Uma das passagens mais marcantes enunciadas por Kopenawa é quando ele afirma:
“As mercadorias deles podem enfeitiçar a gente. Eles parecem bons. Querem ajudar. Mas quando você fica sozinho, ninguém se importa com você, e você passa fome. Tem fome e não tem o que caçar. Não te dão um lugar para dormir. Somente na nossa floresta você pode dormir em paz”.
O trailer do documentário pode ser visto em: https://bit.ly/3fMk1bq.
No dia 06 de maio de 2021, os Yanomami e os Ye’kwana divulgaram a “Carta dos Yanomami e dos Ye’kwana em repúdio a uma possível visita do presidente Jair Messias Bolsonaro na Terra Indígena Yanomami”, disponível em: https://bit.ly/3AEz6Xq. Os indígenas resolveram se posicionar diante de informação do presidente, durante live em 29 de abril de 2021, de que ele visitaria tanto garimpos na TI Yanomami (TIY) quanto pelotões de fronteira do Exército na Amazônia (a live pode ser assistida aqui).
Na carta, os indígenas lembravam que todos os garimpos em terras indígenas são ilegais, e que não tinham interesse em discutir a legalização da atividade em seu território juntamente com o presidente. Eles reafirmavam que todas as decisões tomadas na TIY são coletivas, e nenhuma liderança, individualmente, pode decidir os rumos do que lá ocorre, segundo registrado no portal Amazônia Real.
Conforme também foi noticiado pelo portal, no dia 10 de maio de 2021, garimpeiros integrantes do Primeiro Comando da Capital (PCC), facção criminosa de São Paulo que já domina o tráfico de drogas em Roraima (RR), atacaram com armas de fogo a comunidade Palimi ú, dentro da TI Yanomami. Os indígenas reagiram com tiros de espingarda e flechadas. Duas crianças, de um e cinco anos, fugiram para escapar dos tiros e morreram afogadas.
Segundo Júnior Hekurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Condisi-YY), o incidente foi inédito na terra indígena. Ele destacou, inclusive, que as vestimentas dos garimpeiros eram diferentes: todos eles vestiam preto, e alguns tinham em suas roupas a inscrição de “Polícia”. Segundo os indígenas, os garimpeiros ultrapassaram uma barreira sanitária instalada na comunidade para impedir a entrada de pessoas na terra indígena e atiraram contra os Yanomami.
De acordo com Júnior Hekurari, “eram balas de fuzil, metralhadora, pistola .40, calibre .28, calibre 12mm, tudo misturado”. Além de pesado armamento, o rio Uraricoera encontrava-se extensivamente ocupado por maquinários e balsas dos garimpeiros, bem como depósitos de gasolina e veículos, como quadriciclos, utilizados para acessar por terra os locais de garimpo.
No mesmo dia do ataque – segundo ofício enviado pela Hutukara Associação Yanomami à Frente de Proteção Etnoambiental (ligada à Funai), à Superintendência da Polícia Federal em Roraima – PF/RR, à 1ª Brigada de Infantaria da Selva do Exército e ao Ministério Público Federal em Roraima (7º Ofício) -, sete barcos atracaram na comunidade Palimi ú e começaram um tiroteio que durou 30 minutos.
Mulheres com bebês e crianças correram para se proteger dos tiros. Quatro garimpeiros foram baleados e um indígena foi atingido de raspão. As embarcações dos garimpeiros saíram para a proximidade e ameaçaram voltar para vingança. O ofício, assinado pelo vice-presidente da HAY, Dário Kopenawa, solicitava em caráter de urgência que fosse tomada alguma medida pelas autoridades competentes em relação à proteção dos indígenas.
Um vídeo sobre o ataque pode ser visto no canal do YouTube da Amazônia Real: https://bit.ly/3p4qth9.
A coordenadora da Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami Ye’kwana, Elayne Rodrigues Maciel, por meio do Relatório 2021/CFPE-YY/FUNAI, também registrou o ataque sofrido pelos Yanomami e informou que a Funai não teria possibilidade de realizar diligência na comunidade sem receber escolta da segurança pública, bem como indicou que o coordenador Distrital de Saúde retirou sua equipe da comunidade visando resguardar a integridade dos profissionais.

O mês de maio seguiu com conflitos constantes, gerando mais tragédias. Em decorrência dos ataques sofridos, no dia 12 de maio de 2021, a Hutukara Associação Yanomami (HAY) confirmou a morte de duas crianças indígenas em Palimi ú, mesma comunidade alvo do ataque de garimpeiros dois dias antes. Os Yanomami encontraram o corpo das duas crianças na água, já sem vida. Uma delas tinha um ano e a outra, cinco.
Segundo os indígenas, essas mortes decorreram de um ataque dos garimpeiros naquele dia à comunidade, quando todos correram para se proteger dos tiros e algumas crianças acabaram no meio do mato, ficando sozinhas e se perdendo das mães. Segundo apontado em notícia publicada pelo portal Terra, 15 barcos se aproximaram da comunidade e dispararam muitos tiros.
Além de uso de armas de fogo, os indígenas também respiraram muita fumaça, o que gerou ardência nos olhos, indicando o uso de bombas de gás lacrimogênio. Foi realizada uma ligação para a HAY durante o ataque, na qual podia ser ouvido o barulho de tiros e os gritos de desespero da comunidade.
Um ofício foi enviado em 17 de maio de 2021 por Darío Kopenawa às autoridades, com um pedido de apoio emergencial diante dos incidentes ocorriam sem trégua. O alerta da HAY foi feito à Funai, à Superintendência da Polícia Federal em Roraima, à 1ª Brigada de Infantaria da Selva do Exército e ao Ministério Público Federal em Roraima. As lideranças locais estavam indignadas com a violência e as ameaças constantes pelos invasores; temiam novas retaliações com mortes e, por isso, exigiam ações.
Os conflitos não pararam. Seria impossível registrar aqui todos os acontecimentos e violências sofridas pelos Yanomamis no período analisado. Porém, alguns incidentes se destacam em meio aos confrontos quase diários, como o ocorrido em 31 de maio de 2021, no qual garimpeiros atacaram a base do ICMBio, dentro da Estação Ecológica Maracá, no rio Uraricoera, entre Amajari e Alto Alegre, nos limites da TI Yanomami.
O G1 apurou que os garimpeiros armados fizeram três servidores como reféns e roubaram quadriciclos, motores de popa e combustíveis. Após o ataque, fugiram em direção à TIY. A Polícia Federal, responsável pela desintrusão na TI, afirmou ter enviado policiais federais, patrulhas ambientais e militares para investigar o ocorrido.
No dia 29 de junho de 2021, o portal Amazônia Real noticiou que o MPF em Roraima passou a investigar se havia ligação de uma funcionária da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai/MS) com o garimpo ilegal, conforme denunciou a reportagem especial “Ouro do Sangue Yanomami”, realizada em parceria com a Amazônia Real e a ONG Repórter Brasil.
A técnica de enfermagem e fisioterapeuta Thatiana Nascimento Almeida foi denunciada pela reportagem por vender o metal na Rua do Ouro, em Boa Vista, em 28 de abril de 2021, dentro da loja Opalo, vestindo uma máscara de proteção da covid-19 com a inscrição da Sesai. Ali, conforme investigação do MPF, ela negociou a venda de ouro do garimpo.
O MPF oficiou o Dsei-YY sobre providências a serem tomadas em relação à profissional e passou a investigá-la criminalmente. O resultado da averiguação poderá ser encaminhado a Polícia Federal com pedido de abertura de inquérito. O presidente do Condisi-YY, Júnior Hekurari, solicitou à coordenação do Dsei-YY o afastamento imediato de Thatiana.
Além de investigar a funcionária, o MPF também passou a averiguar a troca de vacinas contra a covid-19 a garimpeiros por ouro por parte de funcionários da Sesai, conforme denúncia da Hutukara Associação Yanomami a partir dos relatos de lideranças yanomami. A Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Povos Indígenas também denunciou o caso para a CPI da Pandemia.
A série de reportagens especiais mostrou como estão envolvidas no esquema criminoso empresas mineradoras com grande capital financeiro, donos de aeronaves, servidores públicos, políticos, governantes, indígenas, grifes de joalherias internacionais e o narcotráfico. A série completa de “Ouro de sangue Yanomami” pode ser acessada em: https://bit.ly/3veSwxM (AMAZONIA REAL, 2021).
Nesse mesmo dia 29 de junho de 2021, começou uma operação de desintrusão na região. A PF, em conjunto com o Exército, Força Aérea Brasileira (FAB), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Fundação Nacional do Índio (Funai) e Força Nacional de Segurança Pública (FNSP) deu início à “Operação Omama”.
Segundo a PF, o objetivo era realizar incursões estratégicas em diversos garimpos com o apoio de aeronaves, equipamentos e tropas especiais, visando apreender e inutilizar maquinários, insumos e materiais utilizados na extração de ouro.
Entretanto, segundo reportagem do Amazônia Real (2021), antes do início da operação, garimpeiros, que adquirem informações privilegiadas antecipadamente, já sabiam do planejamento da operação, conforme apontado em conversas e áudios que circulavam em grupos de WhatsApp:
“Atenção, operação. Três dias de operação aí, galera: terça, quarta e quinta. Vamos ficar [inaudível]. (…). Paredão, Boqueirão. Todos os becos de vielas”, diz um líder do garimpo, em áudio. Vídeos filmando a entrada do Exército também circularam nas redes com falas como “Bora ver quantos. Operação aí, papai. Para dentro do garimpo. Toma-te. Vai, vai. Acaba mais não [em referência aos caminhões do exército]. Olha o rancho deles. Tem mais ali na frente. Ibama, ICMbio”.
A reportagem ainda indica que a recorrência no vazamento de informações acerca de operações contra o garimpo está associada a conexões entre pessoas dentro dos órgãos de fiscalização, que repassam informações confidenciais sobre os planos de ação policial e os próprios garimpeiros.
Segundo reportagem publicada por Amazônia Real, no dia 28 de julho de 2021, um indígena Yanomami morreu atropelado por um avião monomotor pertencente aos garimpeiros na Aldeia Homoxi, às margens do rio Mucajaí, em Roraima. Uma testemunha contou que o avião freou e depois acelerou na direção de Edgar Yanomami, de apenas 25 anos, que morreu na hora.
Segundo apontou Júnior Hekurari ao portal Amazônia Real, o piloto, de apelido “Marreco”, já havia atropelado uma garimpeira na mesma pista, dois meses antes. Após o incidente, a cena do crime foi adulterada por garimpeiros, que levaram o corpo de Edgar, junto da sua mulher e seus três filhos, para a aldeia Yamasipiu.
A notícia da morte de Edgar chegou até o presidente do Condisi-YY quase quatro horas após o ocorrido por meio de radiofonia. No dia seguinte, o presidente da Condisi-YY pousou com dificuldades na comunidade de Homoxi, enfrentando tentativas de impedimento pelos garimpeiros.
Um parente da vítima relatou a Júnior que os Yanomami foram coagidos por eles para ocultar o caso, tendo inclusive recebido ouro para não realizarem nenhum registro ou denúncia à polícia. Na região da comunidade de Homoxi, segundo o Amazônia Real, há cerca de mil garimpeiros trabalhando, levando a uma situação de caos e vulnerabilidade social e ambiental.
O garimpo, além de ter destruído as malocas dos Yanomami, estava prestes a derrubar a própria sede da Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) da comunidade, rodeada de crateras abertas pela mineração ilegal (AMAZÔNIA REAL, 2021).
No dia 09 de agosto de 2021, o foragido Janderson Edmilson Cavalcante Alves, de 30 anos, ligado ao Primeiro Comando da Capital (PCC), foi preso em Boa Vista, abrindo uma frente de investigação dos crimes na TI Yanomami. De acordo com autoridades policiais de Roraima, membros do PCC de São Paulo estão atuando na região no tráfico de drogas, na segurança de garimpeiros, na venda de maquinários e na realização de crimes por encomenda, como homicídios e roubos.
Janderson atuava em todas essas frentes dentro do território indígena, e foi preso com uma pistola .380, 41 munições e mais de 7 mil reais. Ele havia participado, tempos antes, do ataque em 10 de maio de 2021 à aldeia Palimi ú. Um vídeo de 14 segundos, no qual Janderson e outros 12 homens aparecem num barco do tipo voadeira exibindo armas, circulou nas redes.
Um deles diz: “Aí, é nós, olha nós, olha nós, olha nós. Mostrar aqui, meu compadre. Essa p****, [esse] negócio de índio mandar, quem manda é nós. Quem manda é nós, p****. Hoje nós vamos ver como é que funciona o bagulho. Olha. Olha. Olha. Nós [somos] a guerra, neguinho”.
A gravação foi publicada pelos criminosos em redes sociais e recebida pela polícia. Além de Janderson, José Hilton Bezerra de Oliveira também foi identificado, além de outros criminosos, exceto os que utilizavam balaclava para esconder o rosto, de acordo com o Amazônia Real (2021).
Em 12 de outubro de 2021, duas crianças Yanomami foram violentamente aspiradas e despejadas nas águas por uma balsa que operava ilegalmente na região do Parima, em Alto Alegre (RR). No dia 13 de outubro de 2021, a HAY enviou um ofício às autoridades comunicando o ocorrido e pedindo providências. Na esperança de encontrá-las ainda com vida, o Corpo de Bombeiros do Estado de Roraima (CBMRR) foi acionado e realizou buscas na região.
Em 13 de outubro de 2021, moradores da comunidade Makuxi Yano localizaram o corpo de uma criança desaparecida, de apenas cinco anos; o corpo de um menino de sete anos foi encontrado apenas no dia seguinte pelo Corpo de Bombeiros.
De acordo com os indígenas, o caso não foi acidental, mas um assassinato cometido pelos garimpeiros ilegais na TI Yanomami. De acordo com lideranças, não houve fiscalização por parte da PF nem do Exército durante as operações contra o garimpo ilegal.
A situação nessa região é complexa devido ao grande número de balsas e dragas com alto poder de sucção, fazendo com que as crianças fossem levadas pela correnteza formada. A deputada federal Joênia Wapichana (Rede-RR) denunciou o ocorrido durante encontro virtual promovido pela Ashoka Brasil (“Welcome Chance”), exigindo respostas do Estado brasileiro.
Segundo apontou o Amazônia Real (2021), as crianças têm sido uma das principais vítimas da presença cada vez mais agressiva e violenta de garimpeiros na TI Yanomami. Além de intimidações, agressões, assédios, duas crianças indígenas já haviam morrido afogadas poucos meses antes. Além disso, a contaminação dos rios por mercúrio utilizado nos garimpos tem prejudicado a alimentação indígena, à base de peixe e carne de caça.
Doenças como a covid-19, malária, diarreia e pneumonia têm sido um desafio à sobrevivência para as pessoas mais vulneráveis, especialmente crianças e idosos. Para piorar, a destruição de áreas de plantio, o desmatamento e a poluição dos rios e igarapés têm levado as comunidades yanomami a situações de insegurança alimentar que potencializam quadros de desnutrição, bem como ocasionado o nascimento de bebês com má formação. Muitos nem mesmo sobrevivem à gestação, devido aos abortos espontâneos das mulheres yanomami.
De acordo com notícia publicada no site do MPF, entre agosto de 2020 e fevereiro de 2022, foram registrados 3.059 alertas de novos pontos de garimpo ilegal na TI Yanomami, afetando uma área de 10,86 km², ou 1.086 hectares. Apenas em janeiro de 2022, foram 216 alertas de mineração ilegal.
Com base nas denúncias dos graves e reiterados crimes cometidos contra indígenas nas terras Yanomami, o MPF apresentou à Justiça Federal, no dia 31 de março de 2022, pedido para obrigar a União a tomar providências para a proteção dos índios, bem como solicitou a realização de mais operações policiais contra o garimpo ilegal na TIY, haja vista que o MPF concluiu que as operações executadas ao longo de 2021 pelo governo federal foram insuficientes.
Os pedidos foram solicitados após visita realizada pelo MPF na região da Serra das Surucucus, quando foi constatada a ocupação total da região por garimpeiros, que inclusive apropriaram-se de pistas de pouso que os órgãos de saúde utilizavam para atender aos indígenas.
O MPF exigiu, com urgência, que o governo federal coordenasse o planejamento de novas operações de repressão contra os crimes socioambientais cometidos na região, com a retirada dos infratores a partir do trabalho de equipes policiais. Uma visita do MPF à Base de Proteção Etnoambiental (Bape) Walo Pali, no rio Mucajaí, também confirmou a degradação da área e a impossibilidade de a Bape proteger o território sozinha.
Exigiu-se também a garantia da prestação de serviço de saúde por parte da União, bem como a reativação do posto da Funai em Surucucus, inativo desde 2009. O Ibama, por sua vez, foi acionado para iniciar fiscalização em todas as pistas de pouso clandestinas, aeródromos e portos fluviais que dão suporte ao garimpo ilegal. O MPF exigiu ainda que os órgãos de fiscalização passassem a inutilizar aeronaves, veículos e equipamentos encontrados em operações (MPF, 2022)
No dia 11 de abril de 2022, segundo noticiado por O Globo, ocorreu mais um conflito entre indígenas e garimpeiros dentro da TI, com pelo menos três mortos e cinco feridos. Segundo Júnior Hekurari, presidente do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Condisi-YY), o confronto aconteceu por volta de meio-dia, quando indígenas da aldeia Tirei, cooptados pelos garimpeiros, invadiram armados a comunidade de Pixanehabi, que não aceita o garimpo ilegal.
Em conluio com os garimpeiros, a comunidade de Tirei foi abastecida com 80 armas, e os indígenas adentraram a comunidade de Pixanehabi atirando, provocando uma morte. Por não possuírem armas de fogo, a comunidade de Pixanehabi reagiu utilizando paus e facões, o que resultou na morte de um indígena de Tirei e um garimpeiro. Esse caso explicita como o garimpo ilegal tem fomentado violência fratricida entre os próprios Yanomami, fragmentando e fragilizando qualquer resistência autóctone.
Nesse mesmo dia, conforme informaram O Globo e a Carta Capital (2022), os Yanomami lançaram o relatório, produzido por eles em conjunto com o Instituto Socioambiental (ISA), denominado “Yanomami sob ataque – Garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e propostas para combatê-lo”, divulgado pela Hutukara Associação Yanomami (HAY).
No dia do lançamento, mais de 200 indígenas, dentre Yanomami, Kayapó e Munduruku, marcharam em Brasília contra o avanço do garimpo durante o Acampamento Terra Livre 2022 (ATL2022). Em manifestação, eles jogaram lama, tinta vermelha e deixaram placas semelhantes a barras de ouro em frente ao Ministério de Minas e Energia (MME), cuja competência envolve a autorização e fiscalização da exploração, produção e comércio de minérios e da gestão de seus subprodutos, especialmente os resíduos, no Brasil.
Os pontos centrais apontados no material foram publicados pelo jornal Brasil de Fato e republicados pelo blog Combate Racismo Ambiental (2022), indicando que dentre os inúmeros crimes cometidos contra os Yanomami estão alguns chocantes, como os assédios sexuais em troca de comida contra meninas adolescentes das comunidades. Segundo o relatório revelou, em 2020, três adolescentes de 13 anos morreram em decorrência da violência dos abusos sofridos.
De acordo com o material, o garimpo ilegal na TI Yanomami cresceu 3.350% entre 2016 e 2021, ou seja, multiplicando a área explorada em quase sete vezes todos os anos, ocasionando o aumento da malária, da desnutrição infantil, contaminação por mercúrio e aumento da exploração sexual. No segundo semestre de 2020 (no auge da pandemia de covid-19), houve um crescimento significativo da atividade garimpeira no território.
Segundo o relatório indica, somente entre 2020 e 2021, a mineração ilegal teve crescimento de 30% e 46%, respectivamente. São cerca de 16 mil indígenas presentes em 273 comunidades diretamente afetados pelo garimpo ilegal – o equivalente a 56% da população total – as maiores vítimas de todas essas tragédias. Em sua totalidade, o território Yanomami tinha na época de publicação do relatório cerca de 29 mil habitantes distribuídos em 350 aldeias.
Conforme a metodologia utilizada no relatório da HAY junto com a ISA (2022), foi delimitada uma área de até 10km em relação às “cicatrizes” provocadas na terra pelo garimpo. Identificou-se que pelo menos 110 comunidades da TIY estão diretamente afetadas pelos impactos do garimpo: destruição de habitat, contaminação da água e dos solos, destruição do curso natural do rio, assoreamento etc., com impactos diretos na saúde e economia dos indígenas.
No entanto, como alguns impactos possuem um alcance maior do que os observados diretamente (disseminação de doenças infectocontagiosas, contaminação pelo metil mercúrio, sobrecarga nos sistemas de saúde e outros), a pesquisa utilizou como critério espacial para definição de áreas impactadas o próprio recorte dos polos-base ou macrorregiões Yanomami: Uraricoera, Auaris, Parima, Xitei, Homoxi, Rio Mucajaí e Couto Magalhães, Apiaú, Rio Catrimani e Ericó.
Isso indica que, mesmo que não diretamente impactados pelo garimpo ilegal, é possível que haja Yanomamis sendo vítimas indiretas dos impactos dessas atividades na TI.
Um dos trechos do relatório produzido pela HAY aponta a fala indignada de uma liderança indígena:
“Os garimpeiros destruíram nossa floresta. Nós, lideranças, não queremos seus garimpeiros! Nossos animais de caça já acabaram! As crianças já estão sofrendo com doenças de pele e diarreias! Nossos filhos já estão doentes! Bolsonaro, busque seus filhos garimpeiros e os leve de volta!”
Outra denúncia do relatório produzido pela HAY é o aumento do desmatamento e da mineração no entorno de Unidades Básicas de Saúde Indígena (UBSI). De 37 polos de atendimento, 18 estão em condições precárias devido à destruição ocasionada pelo garimpo, conforme as já mencionadas crateras existentes em volta da UBSI de Homoxi, que impedem o acesso e a realização dos atendimentos.
Muitas UBSIs foram abandonadas pelas equipes de saúde após dominadas por garimpeiros para serem usadas como depósitos de materiais, como é o caso de Arathau, Parafuri e Kayanaú (O GLOBO, 2022), o que impacta negativamente na histórica precariedade na execução da Política Nacional de Atenção à Saúde Indígena (PNASI).
Segundo o relatório, no rio Arathau, os casos de malária subiram 1.127% de 2018 a 2020, quase 12 vezes em apenas dois anos. Em 2020, a região do Palimi ú registrou 1,8 mil casos, o dobro da população total, de 900 pessoas, o que indica a múltipla contaminação de pessoas, tornando a doença endêmica na região.
A insegurança alimentar é outra questão complexa, já que a desnutrição infantil atinge os maiores índices justamente entre as comunidades do Arathau. Cerca de 80% das crianças de até cinco anos estão abaixo do peso ideal. Além disso, doenças neurológicas por ocasião da contaminação de mercúrio têm causado danos irreversíveis na população indígena (COMBATE RACISMO AMBIENTAL, 2022).
Além dos abusos sexuais, o aliciamento de jovens passou a ser comum, especialmente nas comunidades do Xitei. Esse aliciamento começa em cidades como Boa Vista e Mucajaí, onde os garimpeiros oferecem roupas, material de higiene e ferramentas aos jovens. Eles também recebem armas de presente e passam a defender os interesses dos invasores contra seu próprio povo (O GLOBO, 2022).
As causas de toda essa tragédia humana são indicadas no relatório: o aumento do preço do ouro no mercado internacional, falta de transparência, falhas regulatórias e fraudes na cadeia produtiva do ouro (que permitem ocultar a origem ilegal do metal), bem como o desmonte da política de proteção dos povos indígenas conduzidas pelo governo Bolsonaro.
A falta de emprego entre os não indígenas, por sua vez, gera uma crise nacional, impulsionando a cooptação de trabalhadores para o garimpo ilegal pelos patrões, que fornecem mão de obra barata, submetidos a condições precárias e de alta insalubridade, embora os rendimentos dos garimpeiros ainda possam ser mais elevados do que os de outras ocupações, demonstrando mais a precariedade generalizada do que possíveis benefícios da atividade. A comunicação e os avanços tecnológicos, por sua vez, facilitam a chegada à região. O relatório, na íntegra, com esses e outros dados, pode ser lido em: https://bit.ly/3M2kBPG.
Figura 4 – Área degradada pelo garimpo na Terra Indígena Yanomami. Fonte: Relatório Yanomami Sob Ataque (2022). Disponível em: https://bit.ly/3M2kBPG. Acesso em: 13 abr.2022.
Conforme publicado no blog Combate Racismo Ambiental, em 12 de abril de 2022, o Ministério Público Federal (MPF) encaminhou ao Supremo Tribunal Federal (STF) uma petição reiterando a necessidade da retirada imediata de invasores da Terra Indígena Yanomami. A manifestação foi apresentada na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPF) 709. Segundo a 6ª Câmara de Coordenação e Revisão – que trata das Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais – do Ministério Público Federal (6CCR/MPF), o aumento do garimpo ilegal na região tem gerado graves conflitos e inviabilizado a prestação dos serviços de saúde às comunidades, entre outros problemas.
Matéria publicada no Combate Racismo Ambiental (2022) apontou que uma das queixas constantes dos indígenas, além da destruição da floresta, contaminação e assoreamento dos rios, é o fato de os garimpeiros estarem retirando seu alimento por meio de caças “por diversão”. De acordo com Júlio Ye´kwana, presidente da Associação Wanasseduume Ye´kwana (Seduume), os indígenas não têm mais conseguido caçar antas, porcos-do-mato ou queixadas porque os garimpeiros matam os animais por puro hobby e depois os despejam nos rios para vê-los boiando.
Além da escassez de animais para caça, os indígenas têm crescentemente abandonado suas roças, inviabilizadas pela destruição dos ecossistemas, passando a depender dos garimpeiros para se alimentar. Em troca de comida, muitos trabalham como carregadores e recebem em dinheiro ou ouro para comprar alimentos nas próprias cantinas dos acampamentos de garimpo a preços exorbitantes, gastando às vezes 1 grama de ouro para adquirir 1 kg de arroz ou frango congelado, o equivalente a 400 reais, considerando a cotação do metal na época da denúncia.
Além das cantinas, há uma rede de lavagem de dinheiro envolvida com supermercados, postos de gasolina e restaurantes em Boa Vista, segundo informações do relatório produzido pela HAY.
De acordo com publicação no Combate Racismo Ambiental (2022), há indícios de envolvimento de empresários de Boa Vista com a lavagem de dinheiro do garimpo, como é o caso de Rodrigo Martins de Mello, processado pelo MPF em 2021 por possuir, junto com parentes, uma rede de “laranjas” que movimentou R$ 425 milhões em dois anos. Para a lavagem de dinheiro, o grupo utilizava uma empresa de táxi aéreo e outra de poços artesianos, transportando insumos e equipamentos para a área dos garimpos.
Em 12 de abril de 2022, a Funai afirmou desconhecer denúncias de abuso sexual contra mulheres e crianças indígenas por parte dos garimpeiros. De acordo com notícia publicada no Combate Racismo Ambiental (2022), a direção da Funai se negou a comentar as denúncias e atribuiu a explosão da atividade garimpeira ilegal na TI Yanomami à migração de garimpeiros venezuelanos no norte do país.
A Funai ainda afirmou estar atuando “firmemente” para resolver a questão do garimpo e acusou gestões anteriores do governo federal pelo problema vivido na época, que teve um aumento de 3.350% desde 2016 – ano em que Dilma Rousseff não estava mais na presidência.
Nota da diretoria também desconsiderava a drástica redução no orçamento da instituição desde 2019, quando Jair Bolsonaro tomou posse. Em 2016, o orçamento previsto para a Fundação era de cerca de R$ 600 milhões, cerca de 1/3 menor que o maior da série histórica (R$ 800 milhões em 2013); já em 2021, dos cerca de 640 milhões previstos no orçamento, somente cerca de 500 milhões foram executados (cerca de 80% do previsto) e, para 2022, o orçamento total caiu para 620 milhões, dos quais menos de 1/3 havia sido executado até junho (PORTAL DA TRANSPARÊNCIA, 2022).
Enquanto a Funai ignorava os crimes de cunho sexual atrelados ao garimpo ilegal na TIY, em 25 de abril de 2022, Júnior Hekurari Yanomami informou que uma adolescente de 12 anos foi violentada, estuprada e morta por garimpeiros na comunidade Aracaçá, região de Waikás. Uma criança com aproximadamente três anos de idade, que estava com a indígena, desapareceu após cair no rio Uraricoera.
Segundo relato de Júnior, publicado na Carta Capital (2022):
“Elas estavam na sua comunidade quando os garimpeiros atacaram a comunidade. Elas foram levadas arrastadas para a sua embarcação, até as suas barracas. Chegando na sua barraca, eles violentaram a menina de 12 anos. A sua tia a estava protegendo, e os garimpeiros a empurraram junto com a sua criança, e a criança foi para dentro do rio Uriracoera. A criança está desaparecida ainda, provavelmente está morta também”.
A Polícia Federal e o Exército foram informados do crime no mesmo dia do ocorrido. No dia seguinte, a Condisi-YY enviou ofício ao Dsei Yanomami e Ye´kwana, à Sesai e ao MPF comunicando o crime (NEXO JORNAL, 2022). Logo após, cerca de 25 indígenas que habitavam a aldeia Aracaçá desapareceram e a comunidade foi completamente incendiada.
Representantes da PF, do MPF, da Funai e da Sesai estiveram na aldeia em 27 de abril de 2022 para averiguar o crime. Em nota, a PF afirmou não ter encontrado indícios de prática de homicídio, estupro ou óbito por afogamento. Existe uma prática cultural yanomami de que, quando alguém morre na comunidade sob circunstâncias consideradas graves, o grupo põe fogo na aldeia e se muda para outro lugar, o que levantou suspeitas de que isso poderia ter acontecido após o assassinato da menina e da criança.
Segundo Ramalho (2008), a morte é um importante mote, embora não seja o único, que faz com que as comunidades yanomami abandonem uma região e se desloquem para outras, como se fosse o “motor de sua história”, se espraiando nos espaços da floresta. Existe uma dinâmica de deslocamento entre os Yanomami, o que justifica sua notória expansão territorial na região amazônica.
É importante salientar que não são todas as mortes entre os Yanomami que promovem o abandono das aldeias. Há relações complexas em relação à morte que diferem das noções hegemônicas na sociedade brasileira sobre os ritos fúnebres, sendo de difícil compreensão sem um aprofundamento na cultura yanomami.
Ramalho (2008), por exemplo, presenciou outros rituais funerários yanomami que foram precedidos por uma série de ritos e seguidos por tantos outros, os quais variavam dependendo do grau de parentesco, importância da liderança da aldeia etc. Em um dos rituais, por exemplo, a comunidade permanece “velando” o corpo suspenso em uma árvore por bastante tempo, após o qual a comunidade retorna à vida na aldeia, sem abandoná-la.
Segundo publicado na Revista Fórum (2022), nove dias após o estupro da menina yanomami, a ex-ministra do antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves, se pronunciou sobre o caso, em 05 de maio de 2022, em entrevista ao portal UOL: “A gente não pode ser pautada por um só caso. Lamento, mas acontece todo dia”.
Por outro lado, o presidente da Comissão de Direitos Humanos (CDH) do Senado Federal, Humberto Costa (PT-PE), encaminhou ao presidente do Senado e do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), requerimento solicitando ao governo federal estrutura logística e de segurança para viabilizar a realização de diligências locais por parte de alguns senadores e deputados federais em Roraima.
As diligências, previstas para ocorrer entre 11 e 12 de maio de 2022, teriam como foco investigar casos de infanticídio, homicídio, estupro, desaparecimento de indígenas, entre outros crimes, tanto em Boa Vista quanto na área de conflito entre o garimpo ilegal e os Yanomamis.
Em 06 de maio de 2022, o líder Júnior Hekurari Yanomami afirmou, em depoimento à Polícia Federal, que os 25 indígenas desaparecidos haviam sido encontrados. Segundo ele, o grupo havia se mudado para outros lugares da floresta dentro da TI Yanomami, e parte estaria residindo em Palimi ú. Ele afirmou que os indígenas foram pressionados e coagidos a não revelar detalhes do que houve, inclusive com o recebimento de ouro em troca do silêncio. A PF informou que as investigações não haviam sido concluídas e que montaria uma base na região para receber denúncias (NEXO JORNAL, 2022).
Sobre o caso de violência na comunidade Aracaçá, região de Waikás, de acordo com o levantamento de Murilo Pajolla publicado no Brasil de Fato (07/05/2022), a PF em Roraima comunicou, em 06 de maio de 2022, não ter encontrado evidências do estupro seguido de morte da adolescente, nem do desaparecimento do bebê, concluindo que o “caso não passou de um mal entendido entre os indígenas” e “não condiz com os fatos concretos e reais”.
Segundo a mesma reportagem, a Hutukara Associação Yanomami (HAY) divulgou nota pública no mesmo dia com relatos dos crimes bárbaros cometidos contra moradores da comunidade Aracaçá, frisando que o crime contra a adolescente estava longe de ser um caso isolado.
Sem citar diretamente a PF, a Hutukara escreveu: “Defendemos que se conduza uma apuração mais ampla e aprofundada do histórico de violências vivida pelos indígenas em Aracaçá por consequência do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami”.
Diante dos reiterados casos de violência, o blog Combate Racismo Ambiental (08/05/2022) divulgou que o Sistema ONU no Brasil lançou, também em 06 de maio de 2022, nota pública alertando para a violação de direitos humanos do povo Yanomami e reforçando o dever do Estado na proteção dos povos indígenas, citando as normativas internacionais ratificadas e adotadas pelo Brasil.
Por fim, o Sistema ONU no Brasil colocou-se à disposição para apoiar o aprimoramento de planos e políticas públicas que “enfrentem as raízes dos problemas e proponham soluções duradouras e sustentáveis para acabar com os conflitos e garantir a paz nas terras indígenas”.
A Associação Nacional dos Servidores Ambientais (Ascema), que representa funcionários públicos federais da área ambiental, divulgou nota no dia seguinte acusando o governo federal de boicotar ações de fiscalização na TI Yanomami.
Na reportagem de Murilo Pajolla, do Brasil de Fato (09/05/2022), a entidade afirmou que o Ibama tinha dificuldade para recrutar fiscais para atuar em operações de fiscalização, sendo os motivos apontados “decisões desastrosas dos dirigentes que promoveram o esvaziamento das condições de trabalho” da categoria.
A Ascema também denunciou que o então presidente do Ibama, Eduardo Bim, promoveu cortes no adicional de periculosidade dos servidores do órgão, levando a jornadas exaustivas e precárias no trabalho de fiscalização ambiental.
Outro ponto elucidado na nota foi que a alteração e a interpretação distorcida de regras internas do órgão ambiental favoreceram a prescrição de multas ambientais. Quase 60 mil infrações em todo o país poderiam prescrever até 2024, uma “verdadeira anistia em massa” – escreveu a entidade.
A nota intitulada “Governo Bolsonaro boicota IBAMA e ICMBio no caso Yanomami” reforçou que: “(…) as invasões que ocorrem hoje na TI Yanomami, bem como em diversas outras Terras Indígenas, Unidades de Conservação, dentre outros locais ecologicamente sensíveis, também são frutos da desestruturação da carreira, dos institutos e do Ministério do Meio Ambiente”.
Situações que ratificam as denúncias proferidas pela Ascema sobre o possível boicote do governo federal nas ações de fiscalização na TI Yanomami podem ser verificadas ainda no mês de maio de 2022.
Uma comitiva composta pelos senadores Humberto Costa (PT-PE), Telmário Mota (PROS-RR), Chico Rodrigues (União-RR), Leila Barros (PDT-DF) e Eliziane Gama (Cidadania-MA), além dos deputados Joenia Wapichana (Rede-RR) e José Ricardo (PT-AM), para averiguar in loco os casos de violência ocorridos na comunidade de Aracaçá, região de Waikás. No entanto, como informado na nota publicada no Combate Racismo Ambiental (16/05/2022), o Exército alegou “restrição dos meios aéreos disponíveis na região amazônica” e não forneceu o apoio solicitado pela comitiva.
Devido à “situação de extrema gravidade e urgência de danos irreparáveis aos seus direitos no Brasil”, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos (CIDH/OEA), ainda em maio de 2022, solicitou à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) uma intervenção de medidas para proteger os direitos à vida do povo Yanomami.
Conforme publicado pela OEA (18/05/2022), a CIDH solicitou outorgar medidas provisórias para proteger os direitos à vida, à integridade pessoal e à saúde dos povos indígenas Yanomami, Ye`Kwana e Munduruku, para que a Corte realizasse uma visita in situ a fim de verificar a situação desses povos. A nota destacou que a Comissão “valora as medidas implementadas pelo Estado, mas ao mesmo tempo observa que, diante do agravamento dos eventos de risco reportados, estas seriam insuficientes”.
Em 19 de maio de 2022, a PF de Roraima realizou a Operação Urihi Wapopë 2 contra uma organização acusada de extração ilegal de ouro e cassiterita em garimpos na TI Yanomami. De acordo com Vianey Bentes, da CNN (19/05/2022), foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão na casa dos envolvidos, todos expedidos pela 4ª Vara Federal Criminal.
A notícia afirma que a organização criminosa estaria ligada às empresas de táxi aéreo utilizadas no transporte do minério extraído ilegalmente. Segundo publicado pelo Portal G1 – Roraima (19/05/2022), a primeira fase da operação Urihi Wapopë havia sido deflagrada em outubro de 2021 e, além de mandados de prisão na época, a Justiça Federal determinou o bloqueio de mais de R$ 9,5 milhões de quatro suspeitos e a suspensão de atividades econômicas de duas empresas envolvidas no caso.
A Justiça Federal em Roraima expediu decisão no dia 23 de maio de 2022 obrigando a União, o Ibama e a Funai a se articularem no combate a ilícitos ambientais na TI Yanomami. De acordo com o MPF (24/05/2022), a medida foi resultado de ação movida pelo MPF solicitando a retomada das operações policiais para retirada de invasores que promovem garimpo ilegal na TI.
A ação também solicitava que o Ministério da Saúde retomasse os atendimentos na região de Homoxi, a reativação do posto de fiscalização da Funai, na Serra das Surucucus, e a formação de equipe interinstitucional para apresentação de novo plano emergencial de ações de monitoramento de todo o território Yanomami.
Maio de 2022 deveria ser um mês de celebração para os Yanomami. Há 30 anos, no dia 25 de maio de 1992, a TI Yanomami foi homologada pelo então presidente Fernando Collor de Mello e registrada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU). Deveria ser um momento de comemoração desse marco histórico para a luta indígena na região, mas reportagens mostraram outra realidade: “A TI Yanomami completa 30 anos cercada pelo garimpo” – conforme veiculado no blog Combate Racismo Ambiental (26/05/2022).
Nas palavras de Dario Kopenawa: “[A situação] não está muito boa, mas nós estamos comemorando esse dia histórico para os Povos Yanomami e Ye’kwana. Isso é para as gerações que vão lutar pelo seu território”.
A reportagem destacou que o juiz federal Felipe Bouzada Viana, da 2ª Vara Cível em Roraima, apontou o risco de genocídio no território yanomami por conta das tensões crescentes entre indígenas e garimpeiros. “Os sinais são claros: a ampla ocupação do território indígena por garimpos ilegais, armamento da população indígena e aliciamento para o trabalho de mineração, interrupção do serviço de saúde, os relatos de violência contra mulheres e crianças por garimpeiros, incluindo algumas mortes” – apontou o juiz para a Folha de São Paulo (25/05/2022).
Nesse mesmo dia, em Audiência Pública promovida pela Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados e o representante da Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF (6CCR/MPF), o procurador da República Alisson Marugal defendeu medidas para proteção de mulheres e crianças yanomami, consideradas as mais vulnerabilizadas diante dos conflitos com os garimpeiros.
Marugal esclareceu que a atuação do MPF no combate à violência sexual dentro do território yanomami visa apurar os relatos de crimes sexuais cometidos contra as mulheres e crianças da comunidade Aracaçá. “A defesa do território é a defesa da vida. Essa é a política principal”, disse o procurador em nota publicada pelo MPF (26/05/2022).
Como forma de apoio e estratégia para dar visibilidade a essa importante data, o Movimento em Defesa de Roraima promoveu, em 25 de maio de 2022, um ato de solidariedade aos povos Yanomami, Ye’kuana e, em especial, ao subgrupo Sanöma do povo Yanomami, um dos mais afetados pelo racismo, violência e discriminação.
De acordo com nota do Cimi (31/05/2022), o evento contou com exposição de fotos, mapas, artigos de jornais e exposição de bonecos envoltos em plásticos pretos, simulando os massacres e homicídios do povo Yanomami. Também houve a exibição de documentários, como o “A Última Floresta” (2021), que recebeu o Prémio Platino 2022 de melhor documentário ibero-americano.
A reportagem de Marina Terra, no ISA (04/06/2022), retrata que esse 25 de maio foi dia de cinema na aldeia Xihopi, com 500 participantes entre lideranças de outras regiões do território e aliados históricos, e terminou com um arco-íris no céu do Xihopi, na TI Yanomami.

Lideranças indígenas reunidas na comunidade de Xihopi, entre 23 e 26 de maio, para lembrar os 30 anos da TI Yanomami deixaram uma mensagem para as autoridades brasileiras e internacionais por meio da carta “O Futuro é Indígena”: “Ouçam a nossa voz, as realidades que nós povos indígenas estamos vivendo. Convocamos os organismos internacionais para que nos apoiem e pressionem o governo brasileiro para proteger nossas vidas e nossas florestas. Convocamos toda a sociedade a se unir a nós e garantir um futuro para todos”.
O médico e pesquisador da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (Ensp/Fiocruz), Paulo Basta, trouxe alguns elementos em junho de 2022 sobre o colapso da atenção à saúde na TI Yanomami. De acordo com entrevista concedida ao The Intercept Brasil (07/07/2022), o garimpo em terras Yanomami reproduz em 2022 o mesmo processo de colonização promovido pelos portugueses que invadiram as terras indígenas há mais de 500 anos: “Vivemos um processo permanente de colonialismo estrutural”.
Para ele, o estado nutricional dessa população indígena é só a ponta do iceberg de uma cadeia de problemas estruturais ameaça os Yanomami: “Essas famílias vivem uma situação de vulnerabilidade e de exclusão social historicamente construída e, mais recentemente, agravada pela invasão dos territórios, violação dos seus direitos, contaminação dos seus rios pelo mercúrio e pela devastação da floresta e das fontes naturais de alimento. Isso tudo se soma e resulta em um quadro crítico de desnutrição”.
Além disso, destacamos a frase de Davi Kopenawa: “Bolsonaro despejou os garimpeiros em nossas terras”, em denúncia ao site jornalístico Sumaúma. Em uma narrativa forte e emocionante, Kopenawa denunciou que o então presidente “matou” a Funai, o Ibama e o Instituto Chico Mendes – órgãos que, por sua natureza, contribuíam para a defesa dos territórios tradicionais dos povos originários no Brasil.
Essa denúncia sobre a atuação do órgão indigenista brasileiro pode ser mais bem dimensionada ao analisarmos a reportagem de João Pedroso de Campos, publicada na revista Veja em 16 de junho de 2022. De acordo com a nota, um documento da Funai apresentado em 15 de junho de 2022 ao STF afirma que o órgão não dispunha dos “requisitos mínimos para proteger satisfatoriamente a população Yanomami”.
De acordo com André Biernath, da BBC Brasil, no dia 1º de julho de 2022, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) emitiu decisão cobrando uma resposta do Brasil para “proteger a vida, a integridade pessoal e a saúde dos membros dos povos indígenas Yanomami, Ye’kwana e Munduruku”. A comissão disse que a situação dos indivíduos dessas três populações era de “extrema gravidade e urgência”. Entre as medidas que o país precisaria tomar, a corte apontou a necessidade de “proteger efetivamente a vida, a integridade pessoal, a saúde e o acesso à alimentação e água potável” desses povos (BBC, 25/01/2023).
Tratando da fragilidade dos órgãos ambientais, essa condição se soma a algumas medidas tomadas pelas várias instâncias do Estado brasileiro que resultaram na desestruturação das ações de fiscalização em terras indígenas. Cita-se como exemplo o caso do governador de Roraima, Antonio Denarium (reeleito em 2022), que sancionou a Lei n. 1.701, de 05 de julho de 2022, que proibia a destruição de equipamentos de garimpeiros.
Art.1º: “Fica terminantemente proibido aos órgãos ambientais de fiscalização, Polícia Militar do Estado de Roraima e da Companhia Independente do Policiamento Ambiental – Cipa, a destruição e inutilização de bens particulares apreendidos nas operações/fiscalizações ambientais no estado”.
De acordo com Yara Ramalho e Valéria Oliveira, do G1-RR, apoiadores do projeto comemoraram com churrasco a aprovação da lei. Mas a 1.701 de Denarium foi apontada como inconstitucional, por ferir prerrogativas do Governo Federal, e derrubada pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF) em 17 de fevereiro de 2023.
Na esteira da crise institucional e precarização da Funai, em 15 de julho de 2022, Geovanio Oitaia Pantoja ocupou o cargo de coordenador-geral de Índios Isolados e de Recente Contato (CGIIRC) da Funai. Esse foi o último posto ocupado no órgão pelo indigenista Bruno Pereira, assassinado no Vale do Javari no início de junho de 2022 (ver mais sobre o caso aqui).
Segundo denúncias de Isabel Harari e Naira Hofmeister publicadas no Repórter Brasil (22/07/2022), Geovanio Oitaia Pantoja foi acusado por servidores da Funai de omissão diante do desaparecimento de Bruno Pereira e Dom Phillips, mortos em 2022.
Em agosto de 2022, a deputada federal Erika Kokay (PT-DF) denunciou, em audiência na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados, que a precariedade de trabalho e esvaziamento da Funai incentivavam crimes contra o meio ambiente na Amazônia. De acordo com a Agência Câmara de Notícias (26/08/2022), para solucionar conflitos institucionais, o representante da Associação Nacional dos Servidores da Funai (Ansef), Arthur Mendes, sugeriu a reabertura do Conselho Nacional de Política Indigenista (CNPI), dissolvido pelo governo Bolsonaro, um canal de diálogo entre indígenas e os responsáveis pelas políticas públicas que lhes dizem respeito.
Em reportagem para a Agência Pública republicada no blog Combate Racismo Ambiental (28/09/2022), Marina Amaral relata que os impactos do garimpo vão além das terras indígenas. O rio Branco é afluente do rio Uraricoera, e, consequentemente, o mercúrio afeta também os 430 mil moradores de Boa Vista – RR, que concentra quase 70% da população do estado.
Conforme a reportagem, essa constatação se baseava nos resultados de pesquisa da Fiocruz (e de outras instituições), publicada em agosto de 2022, que mostrava que, a cada dez peixes coletados no rio Uraricoera, seis tinham níveis de mercúrio acima dos limites de segurança estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
A Nota Técnica da pesquisa tem como autores Ana Claudia Santiago de Vasconcellos (Fiocruz), Ciro Campos de Sousa (ISA), Marcelo de Oliveira Lima (Instituto Evandro Chagas), Marcos Wesley (ISA), Sylvio Romério Briglia Ferreira (Universidade Federal de Roraima) e Paulo Cesar Basta (Fiocruz).
De acordo com ela, foi realizado um estudo de avaliação de risco à saúde baseado em metodologia proposta pela OMS, a saber: “O cálculo da razão de risco (RR) foi estimado a partir da divisão da quantidade média de metilmercúrio (MeHg) ingerida diariamente, pela dose de referência proposta pela Organização das Nações Unidas para a Alimentação e a Agricultura (FAO/WHO, 2003): 0,23 µg MeHg/kg pc/dia para mulheres em idade fértil e crianças; e 0,45 µg MeHg/kg pc/dia para adultos”.
A Nota Técnica que apresenta os resultados desse estudo está disponível na íntegra no link: https://informe.ensp.fiocruz.br/assets/anexos/ff51a29762190d78a7da62fa06d2751e.PDF
A reportagem trouxe elementos sobre um sujeito-chave para entender os conflitos atuais entre os garimpeiros e os indígenas Yanomami: o empresário Rodrigo Martins de Mello, conhecido por Rodrigo Cataratas, líder do “Movimento Garimpo é Legal”. Ele ficou conhecido após ter sido investigado pela PF em maio de 2022 por suspeita de ter movimentado cerca de R$ 200 milhões com extração ilegal de ouro no território yanomami, além de ter sido acusado de tentar incendiar um helicóptero do Ibama.
Em agosto de 2022, Cataratas foi indiciado pela PF por crime ambiental, contra a ordem econômica e por munição ilegal. De acordo com informações do Ibama para o UOL e outras agências (2023), ele deve mais de R$ 7 milhões em multas ambientais.
Segundo a reportagem, ele nega traficar minérios do território yanomami e, como prova de suas “práticas legais” no garimpo, destacou que obteve uma Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) da Agência Nacional de Mineração (ANM), em agosto de 2022, para extrair ouro, cassiterita e diamantes em uma área de 44 hectares em Amajari, perto do rio Trairão, na serra do Tepequém. Seu patrimônio declarado ao TSE é de R$ 33,5 milhões, incluindo R$ 4,5 milhões em dinheiro vivo. Ele foi candidato ao cargo de deputado federal pelo Partido Liberal (PL) nas eleições de 2022, mas não foi eleito.
O procurador da República Alisson Marugal, titular de ofício de Direitos Indígenas do MPF em Roraima, disse que o MPF estava apurando as circunstâncias de obtenção dessa PLG, principalmente em um estado sem licenciamento ambiental para esse tipo de atividade.
Dois fatos merecem ainda ser registrados a respeito. Segundo denúncia de Junior Hekurari à Amazônia Real (2023), uma das empresas de Cataratas, a Tarp Táxi Aéreo, era comumente contratada pela Sesai, ao longo dos últimos dois anos, para transporte de pacientes Yanomami entre a Terra Indígena e Rio Branco. Disse ele ao Portal:
“Uma empresa muito ruim, prejudicou missões. Os próprios Yanomami reconheciam cada piloto que deixavam nas comunidades e [deixavam também] garimpeiros. Começamos então a denunciar para o Ministério Público Federal que os mesmos helicópteros que estavam de serviço prestavam esse trabalho protegendo os garimpeiros”.
A matéria da Amazônia Real tem como tema principal outra denúncia, entretanto: em março de 2023, já sob o Governo Lula, outra empresa de Cataratas – a Cataratas Poços Artesianos – foi contratada pelo Ministério da Defesa, sem licitação e em “caráter emergencial”, para perfurar um poço artesiano no 4º PEF (Pelotão Especial de Fronteira – Surucucu), num exemplo seguido pela Sesai em relação ao Polo Base de Surucucu.
As contratações foram denunciadas por Junior Hekurari e outras lideranças ao Ministério Público Federal. Já a reação de Davi Kopenawa para a reportagem da Amazônia Real foi curta e objetiva: “Furou, agora deixa. Mas não é para furar mais em outro lugar”.
Entre julho e outubro de 2022, a falta de acesso à saúde na TI Yanomami provocou a morte de nove crianças indígenas. Segundo Murilo Pajolla, no Brasil de Fato (01/10/2022), a denúncia foi feita em um ofício da Hutukara Associação Yanomami encaminhado ao MPF, Funai, Exército e Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Ye’kwana (Dsei-YY). O documento destacou que as vítimas tinham doenças facilmente tratáveis, como diarreia, verminoses e síndromes respiratórias.
Segundo a HAY, as causas foram a “desassistência à saúde generalizada na região” e os efeitos danosos da estrutura ilegal dos garimpos. Na Serra das Surucucus, onde foram registradas mortes de crianças, seis postos de saúde foram abandonados e, segundo a organização indígena, houve subnotificação nos casos de óbitos na região.
A HAY denuncia no documento: “Como se vê, a maioria dos postos de saúde foram fechados em razão da sensação de insegurança, que por sua vez é efeito direto do avanço do garimpo ilegal”.
Mais um ofício da Hutukara Associação Yanomami foi encaminhado ao MPF, Funai e PF, agora para tratar de ataque violento em 02 de outubro de 2022, na comunidade Napolepi, em Alto Alegre, TI Yanomami, que resultou na morte de um líder indígena, identificado como Cleomar, de 46 anos, e num adolescente de 15 anos, que ficou ferido. Dário Kopenawa, que assinou o documento, comentou nas redes sociais: “Estamos esgotados de pedir pelo mínimo”. Segundo reportagem de Samantha Rufino para o G1 – RR (05/10/2022), o ataque foi feito por um grupo de 10 garimpeiros conhecidos como “lobos”, homens que “atacam pessoas”.
Dez dias após o violento caso dos “lobos que atacam pessoas”, mais uma situação classificada pela Hutukara Associação Yanomami (HAY) como “a sangue frio” e “crime de ódio” aconteceu contra um grupo de indígenas yanomami acampados na avenida Venezuela, próximo à Feira do Produtor, no bairro São Vicente, na zona sul de Boa Vista (RR).
De acordo com Kátia Brasil e Felipe Medeiros, da Amazônia Real (14/10/2022), dois homens em uma bicicleta passaram pelos indígenas atirando. Uma mulher yanomami, Ana Yanomami Xexana, mãe de um bebê, morreu após ser atingida por dois disparos de arma de fogo na cabeça, e um indígena, não identificado, foi ferido nos braços. A HAY cobrou investigação do caso.
Em 14 de outubro de 2022, a Operação Guardiões do Bioma, coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública (MJSP), por meio da Secretaria de Operações Integradas (Seopi), prendeu 16 pessoas que atuavam ilegalmente em terras Yanomami. Ao todo, duas aeronaves, 19 aeronaves de asa fixa, três embarcações, 73 mil litros de combustível e mais de seis toneladas de minérios foram apreendidos. De acordo com Beatriz Pecinato, do portal Jornalistas Livres, republicado no blog Combate Racismo Ambiental (14/10/2022), a operação buscava combater o desmatamento ilegal, queimadas e incêndios florestais em terras indígenas.
A Portaria Nº 1, de 8 de novembro de 2022, instituiu o Gabinete de Transição Governamental (equipe de transição) do presidente eleito em 2022, Luiz Inácio Lula da Silva (para um terceiro mandato não-consecutivo). Essa equipe criou 31 grupos temáticos, sendo um deles intitulado “Povos Originários”, com dois representantes de Roraima: a então deputada federal Joênia Wapichana (não reeleita naquele ano) e Davi Kopenawa Yanomami. A participação deles foi vista como uma esperança na luta pelos diretos dos Yanomami.
O MPF emitiu, em 30 de novembro de 2022, recomendação ao ministro da Saúde para que fosse nomeado um interventor para chefiar o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Ye’kwana (Dsei-YY). De acordo com nota do MPF (30/11/2022), o órgão instaurou inquérito civil após denúncias e, no decorrer das apurações, identificou que o Dsei YY contratou, em 2021, o valor de R$ 3 milhões em medicamentos essenciais – incluindo o vermífugo albendazol -, mas apenas uma parte muito pequena foi efetivamente entregue ao órgão de saúde e distribuída aos indígenas.
Essa investigação faz parte da Operação Yoasi e, segundo a assessoria de comunicação da PF em Roraima (30/11/2022), o nome da operação faz alusão a Yoasi: para os Yanomami, irmão de Omama e responsável pela morte no mundo.
Segundo o MPF, essas irregularidades e crimes decorrem da nomeação de coordenadores distritais por critérios políticos ao invés de técnicos. No período de vigência do esquema denunciado, mais de 300 crianças indígenas foram vítimas de desnutrição e malária, e tiveram que ser removidas de suas comunidades para receber tratamento no Hospital da Criança em Boa Vista. O órgão ainda pediu que a Sesai criasse um grupo específico (Sala de Situação) para acompanhar em tempo real a situação da saúde no território yanomami.
Mais alguns detalhes sobre o envolvimento do empresário Rodrigo Cataratas foram divulgados em dezembro de 2022, quando o MPF em Roraima o denunciou à Justiça Federal por suspeita de liderar organização criminosa de garimpo ilegal na TI Yanomami. De acordo com publicação do Combate Racismo Ambiental (03/12/2022), tendo como base a acusação da Procuradoria, integram o grupo criminoso uma irmã e um filho de Cataratas.
Na denúncia, o MPF afirma que os acusados deveriam pagar uma indenização mínima de R$ 36,8 milhões e o dinheiro deveria ser revertido em favor do povo Yanomami como forma de reparação de dano. Conforme já relatado, Cataratas foi acusado de usurpação de bens da União, extração de recursos minerais sem autorização, constituição de organização criminosa e outros crimes. A PF suspeita que o grupo movimentou mais de R$ 200 milhões em dois anos.
De acordo com publicação do ClimaInfo republicada no blog Combate Racismo Ambiental (09/12/2022), Cataratas alegava ter obtido uma PLG da ANM (conforme visto anteriormente), mas na verdade tinha uma licença, emitida pela Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (FEMARH) de Roraima, que citava uma área sem mineração aparente e fora da Terra Yanomami, indicando aos investigadores da PF uma tentativa de “legalizar” os minérios explorados ilegalmente dentro da reserva.
Ainda segundo a reportagem, em 06 de dezembro de 2022, um grupo de garimpeiros incendiou a unidade básica de saúde indígena (UBSI) de Homoxi, no território Yanomami. Segundo a Urihi Associação Yanomami, a ação seria uma resposta às operações realizadas pela PF e Ibama contra o garimpo ilegal dentro da TI Yanomami. Cabe destacar que essa unidade de saúde estava fechada desde setembro de 2021 devido aos conflitos entre garimpeiros e indígenas.
Em 10 de dezembro de 2022, a situação dos povos indígenas Yanomami chega a “níveis catastróficos” – segundo o ponto de vista da Urihi Associação Yanomami. Essa declaração foi divulgada juntamente com imagens que mostram crianças da comunidade Kataroa, na região da Serra das Surucucus, em Alto Alegre, com desnutrição.
Segundo publicação dos portais G1 – RR e Globonews (10/12/2022), essas imagens foram divulgadas pela própria associação e mostram cerca de 17 crianças com desnutrição aguda, além de outras doenças infecciosas, segundo divulgado pelo presidente da Urihi, Júnior Hekurari Yanomami. A reportagem ressaltava que o problema de saúde pública tem relação direta com a invasão de garimpeiros na TI Yanomami.
Outras imagens divulgadas em dezembro de 2022 causaram ainda mais indignação. Em 12 de dezembro, Jorge Eduardo Dantas, do Greenpeace Brasil, divulgou fotografias registradas a partir de um sobrevoo feito pela ONG que mostram uma estrada clandestina de cerca de 150km de extensão dentro do território yanomami. De acordo com a reportagem, a estrada foi descoberta pelos próprios Yanomami e, a partir de suas denúncias, o Greenpeace identificou no sobrevoo que a estrada abriu espaço para a entrada de maquinário pesado, como escavadeiras e máquinas hidráulicas.
A nota ressaltou que essa estrada aumentaria o potencial destrutivo do garimpo ilegal na região e a consequente situação de vulnerabilização desse povo. O Greenpeace destacou que a estrada passa a menos de 15 quilômetros de uma aldeia do povo Moxihatëtëa, uma fração do subgrupo yanomami Yawaripë, que vive em isolamento voluntário no território Yanomami.
No mesmo dia dessa denúncia, 12 de dezembro de 2022, carta assinada por mulheres yanomami foi entregue ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT) cobrando atuação mais efetiva do governo federal para frear a ação dos garimpeiros no território. De acordo com Valéria Oliveira do Portal G1 – RR, o documento expõe detalhes da crise humanitária em que vivem os indígenas Yanomami e foi produzido durante o XIII Encontro de Mulheres Yanomami, realizado na região de Caracaraí, no sul do estado. Assinaram a carta 49 mulheres das comunidades indígenas das comunidades Rokoari, Konapi, Monopi, Narahi Uhi, Pacú, Mauxiu, Yaropi, Samaúma, Rakopi, Watoriki, Buriti, Hapakarahi, Waroma, Prainha e Bacabal.
Após participar de reunião da equipe de transição do governo federal realizada em 15 de dezembro de 2022, o coronel da Polícia Militar do Estado de Roraima (PMRR), Edison Prola, que ocupava o cargo de secretário de Segurança Pública de Roraima, divulgou em entrevista a um jornal local o plano de operação para retirada de garimpeiros da TI Yanomami.
O Partido Socialismo e Liberdade (PSOL) e a Urihi Associação Yanomami pediram investigação ao MPF pelo crime de vazamento de informação sigilosa. Segundo o blog Combate Racismo Ambiental (17/12/2022), o coronel deu detalhes de como seria a operação e alertou para a participação de instituições como a PF, Ibama e o Exército.
Em 16 de dezembro de 2022, a 2ª Vara da Justiça Federal em Roraima emitiu decisão obrigando a União a fornecer alimentação saudável e adequada aos pacientes em tratamento médico nos postos de saúde da TI Yanomami. De acordo com a publicação do MPF (16/12/2022), a ação foi aberta em 2021, depois que o MPF investigou o desabastecimento de alimentos nas bases de saúde que atendiam os indígenas. O órgão apurou que a Sesai havia deixado de fornecer alimentação para os pacientes no início de 2020, levando muitos deles a abandonarem o tratamento médico ou sequer a procurá-lo.
Um jovem indígena, sem nome identificado, de 21 anos, morreu após ataque a tiros de garimpeiros na região do Xitei, na TI Yanomami, em 17 de dezembro de 2022. A informação foi divulgada pelo G1 (17/12/2022), após denúncia da Urihi Associação Yanomami, que contou que a vítima estava na “pista do leite” – uma das pistas de pouso clandestinas usadas por garimpeiros.
Em 1° de janeiro de 2023, Luiz Inácio Lula da Silva do Partido dos Trabalhadores (PT) assume pela terceira vez o cargo de presidente da República. No dia seguinte, Nísia Trindade Lima, ex-presidente da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), assume o comando do Ministério da Saúde (MS). Logo no início dessa nova gestão, o MS promove uma missão sanitária e envia equipe para elaborar diagnóstico sobre a situação de saúde no território dos Yanomami.
De acordo com nota publicada pelo Ministério da Saúde (17/01/2023), essa missão foi o primeiro passo de uma nova estratégia do Governo Federal, em parceria com instituições da sociedade civil, para restabelecer o acesso à saúde e segurança desse povo. A ação era uma parceria entre a Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai), Secretaria de Vigilância em Saúde (SVS), Secretaria de Atenção Especializada (Saes), além da Funai, Ministério da Defesa, Fiocruz, Universidade Federal de Roraima (UFRR), Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), lideranças indígenas do Conselho Distrital Yanomami e Ye’kwana (Condisi-YY) e a Hutukara Associação Yanomami (HAY).
Após o presidente Lula convocar ação de emergência na TI Yanomami, decretando a criação do Comitê de Coordenação Nacional para Enfrentamento à Desassistência Sanitária das Populações em Território Yanomami (Decreto N° 11.383/2023), o recém-criado Ministério dos Povos Indígenas (MPI), presidido por Sônia Guajajara (PSOL-MA), divulgou em 20 de janeiro de 2023 que 99 crianças do povo Yanomami morreram devido ao avanço do garimpo ilegal na região em 2022.
As causas da morte são, na maioria, por desnutrição, pneumonia e diarreia, segundo dados publicados pelo G1 – RR (21/01/2023). O MPI estima que ao menos 570 crianças foram mortas pela contaminação por mercúrio, desnutrição e fome nos últimos anos (CARTA CAPITAL, 2023). Essa informação foi mais bem detalhada na reportagem do Instituto Humanitas (IHU) de 14 de abril de 2023.
De acordo com relatório produzido pelo Ministério da Saúde (MS), durante o período de 2019 a 2022, sob o governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, 570 crianças morreram por doenças evitáveis, tais como desnutrição e fome. Entre 2018 e 2022, a Sesai registrou 1.285 óbitos de crianças e adultos por diversas doenças, entre elas, pneumonia, malária e covid-19 na TI Yanomami.
Segundo a mesma nota, o MS apontou que, em 2020, foi registrado o maior número de mortes: 332 óbitos. Em 2021, foram 209 mortes notificadas pelo órgão. O relatório informa ainda que, nos últimos quatro anos, o número de casos de malária passou de 9.928 em 2018 para 20.393, um aumento de mais de 105%. Nesse mesmo dia, o MS declarou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) no Território Indígena Yanomami.
Segundo reportagem de Thayná Schuquel, em Metrópolis (23/01/2023), o presidente Luís Inácio Lula da Silva exonerou dez coordenadores de saúde indígena do Ministério da Saúde, e as demissões foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU) em 23 de janeiro de 2023. Após visitar o povo indígena em Roraima em 21 de janeiro, Lula afirmou que o abandono dos Yanomami pela gestão de Jair Bolsonaro foi “um crime premeditado” e um “genocídio”. Jamil Chade, colunista do UOL (23/01/2023), corroborava a afirmação do presidente e reforçava que o crime de genocídio deveria ser levado ao Tribunal Penal Internacional, em Haia.
No mesmo dia 23 de janeiro, a Câmara que trata das Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais no Ministério Público Federal (6CCR/MPF) lançou a “Nota Pública – Terra Indígena Yanomami” retratando um resumo das ações do MPF na busca por soluções efetivas no território Yanomami. A nota destacou também o compromisso da instituição em coibir as atividades ilegais de garimpo e outros ilícitos em terras indígenas, a retirada de invasores, bem como o fortalecimento da Funai e Sesai.
A Nota Pública do MPF está disponível aqui: https://www.mpf.mp.br/pgr/documentos/pgr-00022463-2023-ti-yanomami-1.pdf
Mais uma vez, em 23 de janeiro de 2022, a situação agora publicamente classificada como de genocídio do povo Yanomami é trazida à público. Por meio de uma nota, o Cimi Regional Norte expressou sua indignação pela negligência do governo de Jair Bolsonaro com o povo Yanomami. A publicação intitulada “A vida em primeiro lugar” traz uma denúncia sobre a gestão do governo Bolsonaro:
“Expressamos por meio desta nota, a nossa solidariedade ao Povo Yanomami e o nosso repúdio ao genocídio, envolvendo pelo menos 570 crianças, devido ao caos instalado nos últimos anos quanto à desassistência na saúde indígena, alto índice de malária, desnutrição e contaminação por mercúrio, provocados pelo garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami no período do (des)governo anterior e sua necropolítica”.
Elementos da denúncia feita pelo Cimi podem ser percebidos a partir do relato do médico e pesquisador da Ensp/Fiocruz, Paulo Basta, em entrevista concedida à Agência Pública em 23 de janeiro de 2023: “O estado nutricional das crianças yanomami é realmente muito ruim, só comparável aos dados de crianças da África Subsaariana”.
Reportagem de Rubens Valente (24/01/2023) destaca que um dos trabalhos mais recentes de Basta – em parceria com Jesem Douglas Yamall Orellana, epidemiologista e pesquisador do Instituto Leônidas, e Maria Deane (ILMD/Fiocruz-AM) – analisou a situação nutricional de crianças até cinco anos em oito aldeias na TI Yanomami.
De acordo com Basta e Orellana (2020, p. 05-06), foram contempladas as seguintes aldeias: Koronau, Kolulu Garape, Trairão, Auaris Posto, Katimani, Kolulu na região de Auaris, e Ariabu e Maturacá, localizadas na região de Maturacá. A conclusão desses estudos foi devastadora. “Esses dados revelam que a desnutrição entre os Yanomami é uma das mais graves do mundo”, afirmou Basta em reportagem da pela Agência Pública.
Diante do colapso na atenção à saúde no território yanomami, o recém-empossado secretário nacional de Saúde Indígena, Ricardo Weibe Tapeba, contou aos jornalistas da Agência Brasil (24/01/2023) que os indígenas “estão à mercê do crime organizado”. Ele defendeu a execução de um plano de desintrusão do território.
Já o recém-ministro do Desenvolvimento Social, Wellington Dias (PT-PI), disse “desconfiar ter sido intencional a falta de assistência aos Yanomami”. A nota publicada no Combate Racismo Ambiental (25/01/2023) retrata que motivos não faltaram, na opinião do novo Ministro. Entre eles, pelo menos 21 comunicados oficiais feitos pela Hutukara Associação Yanomami (Intercept, 2022) foram enviados ao governo de Jair Bolsonaro pedindo providências. Todos eles foram ignorados.
Além disso, de acordo com a mesma nota, dos mais de 30 mil indígenas na terra Yanomami, apenas 177 recebiam o antigo Auxílio Brasil (desde 2023 renomeado como Bolsa Família, mesmo nome que o programa possuía de 2003 a 2021). O ministro Wellington Dias recomendou investigações sobre esses fatos.
Outras recomendações foram feitas em 24 de janeiro de 2023. A Survival Internacional, por meio de uma declaração pública, recomendou um plano com seis pontos para combater a crise que envolve o povo Yanomami. De acordo com publicação do blog Combate Racismo Ambiental (25/01/2023), as seguintes recomendações foram feitas pela Survival:
“1. Remover os garimpeiros. Uma operação de desintrusão já foi feita anteriormente, na década de [19]90, mas é necessário verdadeira vontade política e recursos para realizá-la.
- Enviar equipes médicas e garantir que recebam os recursos necessários para atuação a longo prazo.
- Investigar e levar à justiça políticos e empresários que lucraram com este genocídio, tanto no estado de Roraima quanto em outros estados.
- Desarticular o esquema criminoso do narcotráfico que hoje atua na área e levar à justiça os responsáveis pelos ataques que mataram indígenas Yanomami e que permanecem impunes.
- Combater todo garimpo ilegal e fiscalizar as cadeias de produção e exportação do ouro.
- Garantir que isso nunca mais aconteça: os territórios indígenas precisam de proteção adequada contra invasão e roubo de terras, e vontade política para tal. Fiscalizar e monitorar as regiões das comunidades indígenas isolados Yanomami”.
Conforme já relatado, no dia 1º de julho de 2022, a Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) emitiu uma decisão e cobrou resposta do Brasil para “proteger a vida, a integridade pessoal e a saúde dos membros dos povos indígenas Yanomami, Ye’kwana e Munduruku”. No entanto, de acordo com investigação da BBC News Brasil e reportagem de André Biernath (25/01/2023), a Corte IDH afirmou em 25 de janeiro de 2023 que, “até o dia de hoje, a Corte está esperando uma resposta por parte do Estado brasileiro”.
Ou seja, a gestão de Jair Bolsonaro, ignorou os pedidos da corte internacional sobre o cumprimento de medidas para proteger a vida dos povos indígenas nos territórios ameaçados pelo garimpo.
A pedido do ministro da Justiça, Flávio Dino (PSB-MA), o diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues, determinou em 25 de janeiro de 2023 abertura de inquérito para apurar crimes de omissão e genocídio na ESPIN vivida pelo povo Yanomami. Segundo o Brasil de Fato (25/01/2023), a Superintendência de Roraima do órgão ficou responsável pelas investigações.
Nesse mesmo 25 de janeiro, a Câmara de Coordenação e Revisão do MPF, que trata do Meio Ambiente e Patrimônio Cultural (4CCR/MPF), reafirmou em Nota Pública o compromisso de atuar conjuntamente com a Sexta Câmara (Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais – 6CCR/MPF) no combate às atividades de garimpo ilegal e outros ilícitos na TI Yanomami (TIY). De acordo com publicação do Combate Racismo Ambiental (26/01/2023), a nota destacou medidas judiciais e extrajudiciais feitas pelo MPF com o objetivo de atuar na crise vivida pelo povo Yanomami.
Em 26 de janeiro de 2023, a nova ministra da Saúde, Nísia Trindade, fez um pronunciamento sobre as ações do ministério face a situação do povo Yanomami. Conforme publicado por Eduardo Maretti, da Rede Brasil Atual (26/01/2023), Trindade disse que o governo acionou a Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS) e divulgou chamado para a inscrição de voluntários para atuar nesse programa.
Enfermeiros, médicos e fisioterapeutas foram convocados para atuar na Casa de Saúde Indígena (Casai) Yanomami, em Boa Vista. A ministra também destacou o trabalho feito pela Aeronáutica, não só com aviões da FAB e profissionais de saúde, mas também no hospital de campanha que seria montado em Boa Vista.
Sobre a Força Nacional do SUS, de acordo com levantamento de Catarina Barbosa para o site Sumaúma (25/01/2023), em apenas dois dias, 22 e 23 de janeiro, 19.400 profissionais de saúde se inscreveram como voluntários no programa. A FN-SUS é acionada em situações extremas e, no caso dos Yanomami, foi requisitada após decreto do Ministério da Saúde de Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) em 20 de janeiro de 2023.
De acordo com o site da Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib), ainda em 26 de janeiro de 2023, a instituição protocolou representação criminal na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro; Marcelo Xavier, ex-presidente da Funai; a ex-ministra Damares Alves; e Robson Santos, ex-secretário da Sesai, para que sejam responsabilizados criminalmente pelo crime de genocídio contra os Yanomami.
Em 26 de janeiro, a recém-empossada ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima do Brasil, Marina Silva (Rede-AC), durante sua participação no Fórum Social Mundial (FSM) 2023, em Porto Alegre, declarou que quatro de cada dez crianças yanomami estavam contaminadas por mercúrio. A reportagem de Ayrton Centeno, no Brasil de Fato (27/01/2023), destacou trecho do pronunciamento da nova ministra: “A população (indígena) está contaminada pelo mercúrio do garimpo criminoso e acossada pela violência, que estupra suas mulheres e violenta seus jovens, criando problemas graves de saúde”.
Outro ministério se pronunciou sobre a situação de colapso do povo Yanomami: dessa vez, o novo Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), comandado por Silvio Luiz de Almeida. A nota, republicada no Combate Racismo Ambiental (28/01/2023), denuncia que “o antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos recebeu, entre 2019 e dezembro de 2022, diversas denúncias envolvendo violações de direitos dos povos indígenas, todas registradas na Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos (ONDH)”.
Entre 25 e 27 de janeiro de 2023, o Conselho Nacional de Direito Humanos (CNDH) e a Defensoria Pública da União (DPU), em conjunto com a Defensoria Pública do Estado de Roraima (DPE-RR), realizaram uma oitiva na Escola de Formação da DPE-RR, em Boa Vista (RR), juntamente com as associações do povo Yanomami e outras organizações indigenistas.
De acordo com Ligia Kloster, da Assessoria de Comunicação do Cimi Norte I (01/02/2023), o vice-presidente do CNDH, André Carneiro Leão, disse que a oitiva fez parte da missão da DPU diante da tragédia humanitária que se instalou no território yanomami. O objetivo era conversar com instituições e órgãos do estado de Roraima, visitar a Casai e o Hospital da Criança, em Boa Vista, e, a partir da escuta, diálogos e inspeção, elaborar propostas de soluções efetivas para os problemas encontrados.
Às vésperas do Dia Internacional em Memória às Vítimas do Holocausto, dia 27 de janeiro, por meio de manifesto divulgado nas redes sociais, grupos como o Judeus pela Democracia e o Observatório Judaico de Direitos Humanos compararam o caso Yanomami com o Holocausto: “Tornou-se pública em maior escala a crise sanitária no território yanomami, evidenciando indícios do genocídio que se exacerbou nos últimos quatro anos, na gestão de Jair Messias Bolsonaro, com claras conotações neonazistas”.
Uma nota do ClimaInfo (30/01/2023) destacou que a comparação com o Holocausto também foi assinalada pelo presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), Antonio Barra Torres, ao se deparar com a situação dos Yanomami: “Remontam a cenas que só víamos em documentários da Segunda Guerra Mundial, a cenas do Holocausto, quando víamos pessoas com ossos cobertos apenas por pele. E vemos que isso acontece em nosso próprio país. Como se chegou a esse ponto?”
O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Luís Roberto Barroso, determinou em 30 de janeiro de 2023 investigação para averiguar a prática dos crimes de genocídio de indígenas e de desobediência de decisões judiciais por parte de autoridades do governo Jair Bolsonaro. De acordo com o portal de notícias G1 (30/01/2023), para tomar essa decisão, Barroso analisou dados apresentados pelo governo, além de pedidos da Apib e do MPF.
O ministro do STF determinou ainda que o governo recém-empossado atue para garantir a retirada de garimpos ilegais em sete terras indígenas e fixou prazo de 30 dias para que fosse apresentado um diagnóstico dessas comunidades, com o respectivo planejamento e cronograma de execução de medidas. De acordo com o portal do STF (30/01/2023), o ministro Barroso determinou a retirada de garimpos ilegais das TIs Araribóia, Karipuna, Kayapó, Munduruku, Trincheira Bacajá, Uru-Eu-Wau-Wau e Yanomami.
No mesmo dia 30 de janeiro de 2023, o Conselho Indígena de Roraima (CIR) denunciou que crianças yanomami estavam sendo retiradas de seus pais e encaminhadas irregularmente para adoção. Em documento citado por Octavio Guedes para o portal G1 (30/01/2023), o conselho cobrou providências das autoridades locais e nacionais para a proteção das crianças indígenas e suas famílias.
“Chegou a nosso conhecimento que crianças indígenas yanomami que vêm às cidades em fluxos pendulares estão sendo encaminhadas para adoção e seus pais destituídos do poder familiar” – disse o CIR, ao se referir às crianças que vão para a capital receber atendimento médico e, depois, são devolvidas para sua região de origem.
Diante da gravidade e magnitude das injustiças que assolam o povo Yanomami, o dia 30 de janeiro de 2023 também foi marcado pelo início do funcionamento do Centro de Operações de Emergências Yanomami (COE) em Boa Vista – RR. Conforme publicado pelo portal G1, o COE tem como função planejar, organizar e controlar medidas durante o período de emergência de saúde pública declarado pelo Ministério da Saúde. A gestão do COE está sob a responsabilidade da Sesai, Organização Pan-Americana da Saúde (Opas), Funai e ministérios dos Povos Indígenas (MIP), da Justiça (MJ), da Defesa (MD) e dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC).
Em entrevista ao jornal Folha de São Paulo, publicada em 30 de janeiro de 2023, o governador do estado de Roraima, Antonio Denarium, fez comentários minimizando a crise humanitária vivida pelos indígenas Yanomami, alegando que “eles [indígenas] têm que se aculturar, não podem mais ficar no meio da mata, parecendo bicho”.
Diante desse pronunciamento, a Procuradoria da República em Roraima, por meio do Procurador da República Alisson Marugal, emitiu ofício no mesmo dia para o Procurador-Geral da República visando à apuração do cometimento do crime do art. 20 da Lei nº 7.716/1989 pelo governador Antonio Denarium, com base nas seguinte alegação: “A fala em destaque do governador do estado de Roraima, Antônio Denarium, na entrevista concedida à Folha de São Paulo, aponta para prática de discriminação do modo de vida tradicional da etnia Yanomami, conduta ilícita passível de responsabilização civil e criminal”.
Além destas alegações, Marugal argumenta a prática de racismo, no seguinte trecho:
“Desse modo, as declarações do Governador do Estado de Roraima aparentemente negam o direito à existência do modo de vida tradicional Yanomami, buscando eliminar direito fundamental assegurado pelo art. 231 da Constituição Federal. Portanto, a princípio estão ultrapassadas as três etapas indispensáveis para caracterização de racismo: a de caráter cognitivo, em que atestada a desigualdade entre os Yanomami e a sociedade envolvente; outra de viés valorativo, em que se assenta suposta superioridade do modo de vida ocidental; e, por fim, uma terceira, em que o Governador supõe legítima a supressão ou redução de direitos fundamentais do Povo Yanomami, consistente na supressão do direito de viver seu modo de vida tradicional”.
No que tange ao posicionamento do Procurador Alisson Marugal, o ofício supracitado encontra-se na íntegra em: bit.ly/41JjtYT.
Ainda sobre o pronunciamento de Denarium, publicação do Combate Racismo Ambiental (01/02/2023) divulgou que pastorais, movimentos sociais de Roraima e mais de 60 instituições lançaram nota pública repudiando o que classificaram como “fala desumana e leviana” do governador.
Alex Rodrigues, em Agência Brasil (31/01/2023), retrata o fato de que o governo federal, por meio do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC), apurou supostas ameaças aos profissionais de saúde e servidores públicos federais enviados a Roraima para atender aos indígenas Yanomami. Segundo a secretária-executiva do ministério, Rita Oliveira, “existem relatos de ameaças às equipes”.
Uma comitiva do MDHC foi para Boa Vista com a finalidade de “apurar falhas nas políticas públicas de proteção aos indígenas, principalmente na área de direitos de crianças e adolescentes”.
Apesar dos esforços do governo Lula, que decretou Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional na TI Yanomami e, desde janeiro de 2023 realizou uma série de ações emergenciais no território da etnia, ainda falta estrutura para tantas ações necessárias diante da calamidade pública na região. No dia 31 de janeiro de 2023, um ofício enviado em caráter de urgência por um grupo de cinco defensoras e defensores públicos federais da DPU aos ministros da Defesa, José Múcio, e da Justiça, Flávio Dino, denunciou que apenas dois helicópteros das Forças Armadas davam apoio logístico aos servidores da Funai e da Sesai no enfrentamento da crise.
Rubens Valente, que teve acesso ao ofício, publicou trecho na Agência Pública (31/01/2023):
“Diante deste cenário de guerra, para que o Estado brasileiro consiga garantir o direito à existência dos povos indígenas que vivem na Terra Indígena Yanomami será fundamental lançar mão de toda a estrutura logística possível, sem qualquer limitação orçamentária. É importante ressaltar que o principal meio de locomoção para conseguir chegar às aldeias dentro da TIY para levar alimentos, medicamentos e para tratamento médico é pela via aérea (realidade de 98% das comunidades). Assim, as Forças Armadas possuem um papel central na logística das operações” (DPU, 2023).
“Um etnocídio inenarrável, um genocídio herodiano, um imenso ecocídio amazônico e uma aporofobia mortal, imoral e insensível” – essa foi a avaliação de Marcelo Figueroa sobre o caso Yanomami. Em 31 de janeiro de 2023, na entrevista republicada no Combate Racismo Ambiental, ele lembrou os alertas do Papa Francisco no documento do Sínodo da Amazônia, no qual o colapso em terras Yanomami foi percebido:
“Uma das principais causas de destruição na Amazônia é o extrativismo predatório que responde à lógica da ganância, típica do paradigma tecnocrático dominante. (…) A depredação do território é acompanhada pelo derramamento de sangue inocente e pela criminalização dos defensores da Amazônia”.
Figueroa termina sua narrativa com um apelo mundial: “É tempo de reler estes e outros documentos pontifícios com humildade e seriedade. Para que não haja mais [genocídios como o dos] Yanomami, para que nunca mais tenhamos que lamentar tanto horror que nos envergonha como humanidade”.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva publicou, em 31 de janeiro de 2023, o Decreto N° 11.405, de 30 de janeiro de 2023, que dispõe sobre medidas para enfrentamento da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional e de combate ao garimpo ilegal no território Yanomami a serem adotadas por órgãos da administração federal. Um resumo do decreto publicado pelo ClimaInfo (01/02/2023) informa que uma das medidas define o uso das Forças Armadas para apoio logístico e de inteligência em operações antigarimpo, em conjunto com outros órgãos federais.
O decreto também autorizou a Força Aérea Brasileira (FAB) a criar uma Zona de Identificação de Defesa Aérea (Zida) sobre o espaço aéreo da Terra Yanomami, facilitando medidas de controle e fiscalização. Outra medida autorizada foi a atuação da PF, Ibama e outros órgãos federais competentes, como polícia administrativa, nos casos em que forem constatadas atividades ilícitas dentro do território yanomami. O decreto também garante que os agentes públicos possam inutilizar equipamentos usados pelos garimpeiros.
O governo federal estabeleceu outras medidas para o período de vigência da Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional. Em 1° de fevereiro de 2023 foi publicada no DOU portaria com novas regras para acesso ao território Yanomami, e toda ação do governo na região passou a ser coordenada pelo Centro de Operações de Emergências em Saúde Pública (COE-Yanomami). A portaria foi assinada pela Funai e Sesai do Ministério da Saúde.
A Agência Fiocruz de Notícias divulgou, em 02 de fevereiro de 2023, algumas medidas tomadas por Paulo Basta e sua equipe para apoiar ações de combate aos casos de desnutrição infantil em terras yanomami. De acordo com a publicação, em 2018 e 2019, Basta coordenou a equipe de pesquisa de estudo que investigou a saúde das crianças menores de cinco anos em duas regiões da Terra Indígena Yanomami: Awaris, no extremo norte de Roraima, e Maturacá, em São Gabriel da Cachoeira, no Amazonas.
Diante da crise atual nas terras yanomami, o objetivo da equipe é criar, junto à comunidade, um sistema de abastecimento de água potável para combater os casos de diarreia, desidratação, desnutrição e mortalidade infantis. Basta destacou na reportagem: “Essa é uma queixa das populações indígenas, que muitos profissionais de saúde e pesquisadores chegam lá para apontar problemas, mas não trazem soluções”.
Murilo Pajolla, em Brasil de Fato, divulgou em 02 de fevereiro de 2023 entrevista com Dário Kopenawa, que responsabilizou o governo Bolsonaro pelo genocídio de pelo menos 570 crianças indígenas e mandou um recado para os antigos governantes e aliados de Jair Bolsonaro: “Parem de mentir!”
Já para o atual governo de Lula, Dário enfatizou que as medidas de emergência são importantes, mas não resolvem a situação dos Yanomami. Em suas palavras: “O governo Lula tem que fazer isso: retirar os garimpeiros na Terra Yanomami imediatamente”.
A Portaria nº 20, publicada no DOU em 02 de fevereiro de 2023, diz que o Ibama criou uma Sala de Situação e Controle da Terra Indígena Yanomami para coordenar, planejar e acompanhar ações de combate ao garimpo ilegal no interior da TI Yanomami. Após longo período de precarização e sucateamento desse órgão de fiscalização, essa portaria anuncia esperanças para uma atuação mais eficaz do Ibama: “O Ibama está de volta!”, resumiu Jair Schmitt, novo presidente e diretor de Proteção Ambiental no Ibama, em reportagem de Nádia Pontes no Made for Minds (11/02/2023).
De acordo com Alex Rodrigues, na Agência Brasil (02/02/2023), a sala de situação também ficará encarregada de receber e catalogar bens apreendidos depositados na Superintendência do Ibama em Roraima; organizar processos administrativos relacionados à Terra Indígena Yanomami; e elaborar relatório final sobre as ações realizadas.
Reportagem de Carolina Pimentel, da Agência Brasil, republicada no Combate Racismo Ambiental (03/02/2023) revela que a condição de vulnerabilização dos Yanomami é atravessada pela questão racial e de gênero. Denúncias publicadas em 03 de fevereiro de 2023 mostram que pelo menos 30 meninas e adolescentes yanomami estariam grávidas, vítimas de abusos cometidos por garimpeiros em Roraima, conforme informou o então secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro.O secretário alertou ainda sobre seis casos suspeitos de acolhimento irregular de crianças yanomami, sendo que, em dois deles, os processos de adoção estariam em andamento por famílias não indígenas.
Reportagens sobre o caso mostram que os primeiros dias do mês de fevereiro foram repletos de graves denúncias. Em parte, trata-se do resultado das investigações realizadas pelo MPF-RR e PF na Operação Yoasi, deflagrada em novembro de 2022.
Murilo Pajolla, em nota publicada no Brasil de Fato (03/02/2023), revela que uma das causas do colapso na TI Yanomami foi o esquema de desvio de medicamentos (Operação Yoasi). Segundo as investigações, esse desvio esvaziou o estoque de postos de saúde no interior da Terra Indígena, deixando mais de 10 mil crianças Yanomami sem remédios.
De acordo com o MPF-RR, os medicamentos foram desviados pela empresa Balme Empreendimentos Ltda, que teria recebido quase R$ 3,5 milhões de verbas federais em contratos de fornecimento de medicamentos e insumos hospitalares, incluindo oxigênio, durante a pandemia de covid-19. A empresa tem contratos com o DSEI Yanomami desde 2017, mas passou a receber as maiores quantias a partir de 2019.
Conforme a PF, alguns empresários de Roraima se beneficiaram do suposto esquema e eram apadrinhados políticos do senador Chico Rodrigues (DEM-RR), que chamava o ex-presidente, Jair Bolsonaro, de “amigo”. Segundo a reportagem, o ex-presidente chegou a afirmar que mantinha com Rodrigues “quase uma união estável”, conforme gravação que circulou na internet sem data indicada.
Por fim, a reportagem do Brasil de Fato destaca o pronunciamento do procurador do MPF-RR, Alisson Marugal: “Me chocou profundamente a insensibilidade desses agentes envolvidos nesse esquema, por enriquecerem tão pouco e provocarem uma grave crise no território Yanomami”. O procurador Allison Marugal afirmou que o MPF-RR daria sequência à operação Yoasi ao longo de 2023, pois há indícios de fraudes em outros contratos.
Em 05 de fevereiro de 2023, três indígenas Yanomami foram assassinados por garimpeiros na região do Homoxi, dentro da terra indígena. A informação divulgada pelo G1-RR e pelo blog Combate Racismo Ambiental (06/02/2023) foi obtida a partir das redes sociais do líder Júnior Hekurari Yanomami, que estava na região acompanhando as ações do Estado frente à crise no território:
“Recebi informações das comunidades do Haxiu e Waphuta de que os garimpeiros mataram três jovens. (…) Hoje, sobrevoamos com a ministra [Sônia Guajajara] onde tiveram as mortes. Têm muitos garimpeiros e helicópteros voando em cima. Nós comunicamos a PF, o MPF e a Funai para apoiar no resgate desses corpos que estão no Homoxi”.
Conforme o então presidente e diretor de Proteção Ambiental do Ibama, Jair Schmitt, o órgão voltou a atuar com poder de polícia ambiental no âmbito federal. Em 08 de fevereiro de 2023, a operação Xapiri, desencadeada pela fiscalização do Ibama, com apoio da Funai e da Força Nacional de Segurança Pública (FNSP), foi a primeira incursão de agentes do governo no território desde o início do governo de Luiz Inácio Lula da Silva com o propósito de “retomar o território” – termo destacado na reportagem de Rubens Valente, Agência Pública (08/02/2023).
A ação revelou que a invasão garimpeira ao território indígena estava longe de ser resolvida. Segundo o Ibama, houve apreensão de três embarcações com cerca de 5 mil litros de combustível que seria usado para o abastecimento dos garimpos. Além do combustível, os barcos apreendidos carregavam “cerca de uma tonelada de alimentos, freezers, geradores e antenas de internet” – como informou a assessoria do Ibama e do MMA, conforme destacado por Rubens Valente. O Ibama trabalha, pois, com a hipótese de que a operação de retirada dos garimpeiros demore vários meses.
Uma comitiva interministerial formada pelos ministros da Defesa, José Múcio, dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, da presidente da Funai, Joenia Wapichana, entre outros representantes da frente de apoio aos indígenas, desembarcou em Boa Vista (RR), em 08 de fevereiro, para acompanhar as ações do governo federal. De acordo com dados da Funai (09/02/2023), desde janeiro, o governo entregou mais de 78,7 toneladas de mantimentos e medicamentos à população yanomami e, nesse período, a FAB viabilizou cerca de 74 evacuações aeromédicas com indígenas em situação grave de saúde.
Já o ministro José Múcio reforçou pedido de policiamento e disse que foram criados três corredores aéreos para a saída voluntária de garimpeiros da região. De acordo com o blog Combate Racismo Ambiental (09/02/2023), em outra ocasião, a ministra dos Povos Indígenas, Sônia Guajajara, disse que os garimpeiros que não saírem de forma voluntária serão presos.
A ação de retirada de garimpeiros das terras Yanomami era, contudo, considerada complexa pelos agentes estatais. De acordo com Lucia Alberta Andrade, da Funai, a fuga de garimpeiros provocou alertas em grupos indígenas de outras localidades da região amazônica: “Com essa saída desenfreada, esses garimpeiros podem ser deslocados para outras Terras Indígenas, tanto aqui em Roraima, como a Raposa Serra do Sol, como para outros estados onde tem bastante garimpo, como o Pará, na [Terra Indígena] Munduruku e na Kayapó”, avaliou, segundo nota publicada no ClimaInfo (10/02/2023).
Especificamente sobre o conflito que envolve o povo Munduruku no Pará, o link aqui presente traz maiores detalhes. Já sobre o caso do território Kayapó, acesse ficha específica aqui. Além desse, este link aqui tem mais detalhes do conflito na TI Raposa Serra do Sol.
O procedimento adotado pelas forças policiais federais também parece estar em análise, pois existiam divergências dentro do próprio governo. Enquanto a ministra dos Povos Indígenas Sônia Guajajara (PSOL-MA) defendia a prisão dos garimpeiros que não saíssem de forma voluntária, o ministro da Defesa, José Múcio (PTB-PE), preocupava-se que a operação não prejudicasse “inocentes” entre os garimpeiros. Trecho de sua fala foi divulgado no ClimaInfo: “No garimpo, tem pessoas que trabalham lá para se sustentar. Mulheres, crianças e tem homens que estão trabalhando lá pelo seu sustento”.
Segundo dados divulgados por Eduardo Gonçalves, do jornal O Globo (09/02/2023), até a data da publicação, nenhuma detenção havia ocorrido nas ações do Ibama nessa região. Os garimpeiros flagrados estavam sendo fichados pela Polícia Federal e, depois, liberados. Também cabia à PF a responsabilidade por investigar os “donos” e financiadores das áreas de garimpo.
Em 10 de fevereiro de 2023, foi iniciada a “Operação Libertação”, e a PF implementou ações contra o garimpo em terras Yanomami, “com foco na inutilização da infraestrutura utilizada para a prática do garimpo ilegal” – segundo fontes da própria Polícia (10/02/2023). O chefe da Diretoria de Meio Ambiente e Amazônia da PF, Humberto Freire, disse: “O foco das ações é na logística do crime e no registro da materialidade delitiva, não nas pessoas envolvidas, de modo a evitar que haja dificuldades na saída dos [não indígenas] da Terra Yanomami”.
Ronilson Pacheco, teólogo, ativista, autor de “Ocupar, Resistir, Subverter” (2016) e “Teologia Negra: o sopro antirracista do Espírito”, em artigo publicado no The Intercept (10/02/2013) defende que as missões evangelizadoras devem ser investigadas pelo genocídio Yanomami. Ao associar as políticas do ex-presidente Bolsonaro com um projeto de “supremacia cristã e de evangelização do país”, Pacheco defende que os povos indígenas estiveram “na mira” do projeto, que visava “conquistar territórios por meio da expansão do projeto evangelizador”.
Enquanto as agências missionárias (de uma visão teológica fundamentalista) atuavam em terras indígenas, as denúncias de avanço do garimpo sobre esses territórios se avolumavam: “As agências missionárias não agiram, não denunciaram, não mostraram desconforto, não clamaram por uma intervenção”. Na opinião do teólogo, esses grupos deveriam ser investigados no caso de genocídio do povo Yanomami.
O subprocurador-geral da República e professor da Universidade Federal da Paraíba (UFPB), Luciano Mariz Maia, atuou como um dos três procuradores da República responsáveis pelo caso conhecido por “Massacre de Haximu”, que resultou no primeiro julgamento de genocídio no Brasil, conforme já detalhado aqui. Seu depoimento sobre o caso atual do povo Yanomami foi publicado na Agência Brasil em 11 de fevereiro de 2023. De acordo ele, o novo caso de genocídio terá punição:
“Afirmo, sem medo de errar, que a linha de investigação da Polícia Federal de que possa estar em curso atos genocidas é absolutamente consistente, na modalidade de submeter intencionalmente um grupo a condições de subsistência que conduzam à sua extinção total e parcial. Essa é uma das hipóteses prevista tanto na nossa lei do crime de genocídio quanto na convenção das Nações Unidas contra o genocídio”.
A ministra da Saúde, Nísia Trindade, nomeou o enfermeiro e professor de História, Leandro Alves Lacerda, como novo coordenador distrital da saúde indígena do Distrito Especial Indígena Yanomami e Ye’kwana (Dsei-YY), órgão ligado à Sesai. A publicação da Folha Web (11/02/2023) destacou que Lacerda atua há mais de 20 anos nas ações de saúde indígena, já trabalhou na Urihi Saúde Yanomami, na Associação Serviço e Cooperação com Povo Yanomami (Secoya), na Funasa, e está desde 2009 na Missão Evangélica Caiuá, que mantém convênio com o Ministério da Saúde para prestar atendimentos às comunidades indígenas de Roraima.
A Missão Evangélica Caiuá, segundo seu site, é uma entidade das igrejas Presbiteriana do Brasil (IPB), Presbiteriana Independente do Brasil (IPI) e Indígena Presbiteriana do Brasil (IIPB) que atua com prestação de serviço e ações complementares na área de atenção à saúde, por meio de convênio com Funasa e Sesai, desde 2000. Atualmente a entidade é responsável pela gestão de nove convênios nos estados de Acre, Amazonas, Mato Grosso do Sul e Roraima.
Também no dia 11 de fevereiro de 2023, a Corregedoria Nacional de Justiça, órgão do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), anunciou que iria investigar a organização judiciária em Roraima, sobretudo na 4ª Vara Federal. De acordo com o Jornal Estado de Minas (11/02/2023), a decisão foi tomada em razão de problemas detectados na prestação jurisdicional da Seção Judiciária de Justiça Federal em Roraima, incluindo processos judiciais referentes ao garimpo ilegal e à proteção da TI Yanomami.
No dia 15 de fevereiro de 2023, foi eleito para presidente da Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami o senador Chico Rodrigues (PSB-RR), declarado defensor dos garimpeiros e do extrativismo minerário em terras indígenas. De acordo com a Agência Senado (15/02/2023), o senador prometeu “um trabalho isonômico entre indígenas e garimpeiros para encontrar a solução para a crise humanitária de Roraima, e rejeitou a possibilidade de politização dos trabalhos do colegiado”.
A indicação de Rodrigues era considerada controversa pela sociedade civil de Roraima, pois o senador deixara a vice-liderança do governo Bolsonaro no Senado em 2020, depois de ter sido flagrado com dinheiro em uma operação da PF contra o desvio de recursos no combate à covid-19 (ESTADO DE MINAS, 2023).
Enquanto a referida Comissão Temporária conta com a presença de antigos aliados de Bolsonaro, o Ministério da Saúde, sob a gestão de Nísia Trindade, optou por dialogar com pessoas envolvidas com as demandas populares. No mesmo dia 15 de fevereiro, Trindade participou de reunião com o presidente da Central Única das Favelas (Cufa), Preto Zezé. De acordo com o site oficial do Ministério da Saúde, o encontro também contou com o coordenador da Frente Nacional Antirracista, Anderson Quack; o secretário de Saúde Indígena (Sesai), Ricardo Weibe Tapeba; o assessor especial Valcler Rangel; e o coordenador de projetos do Ministério da Saúde, Luiz Eduardo Batista.
O objetivo da reunião foi definir estratégias de atuação no território Yanomami. O presidente da Cufa detalhou algumas ações já realizadas pelo movimento: “Visitamos a Casai, fomos ao polo de Surucucu, e conseguimos nos mobilizar para arrecadar doações de alimentos específicos (consumidos na cultura indígena), e também para doar uma máquina de lavar para a Casai e sandálias para os internados e acompanhantes. Os itens foram entregues à Funai para distribuição”.
Não demorou muito para a sociedade civil organizada se posicionar contra a formação do colegiado da Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami. De acordo com o portal G1 – RR (19/02/2023), a Hutukara Associação Yanomami (HAY), a Urihi Associação Yanomami (UAY) e o Conselho Indígena de Roraima (CIR) pediram o afastamento dos senadores Chico Rodrigues (PSB-RR), Mecias de Jesus (Republicanos-RR) e Hiran Gonçalves (PP-RR) da Comissão Temporária. As lideranças argumentam que os três senadores seriam a favor do garimpo e da legalização da atividade em terras indígenas, e que a Comissão poderia “favorecer a impunidade dos garimpeiros”.
Por meio de Nota Pública divulgada em 17 de fevereiro de 2023, a HAY também repudiou o momento em que Chico Rodrigues disse ao Estúdio i, na Globo News, que o povo Yanomami é a “última etnia do planeta no século 21 que ainda é primitiva”. Trecho da nota dizia: “Lamentavelmente, a fala desse senador mostra seu total desconhecimento da realidade do povo Yanomami, não conhece a nossa cultura, a nossa crença. Como autoridade, ao nos chamar de primitivos só demostra seu preconceito, racismo e discriminação”.
Um mês após a Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) ser declarada no território yanomami pelo governo federal, mais de cinco mil atendimentos médicos aos indígenas em grave situação de desassistência foram realizados, segundo informação do Ministério da Saúde (20/02/2023). Entre as crianças acompanhadas na Casai de Boa Vista, 78% evoluíram do quadro grave de desnutrição para moderado. Desde o início da Espin declarada no território yanomami, o Ministério da Saúde enviou mais de 100 profissionais pela Força Nacional do SUS, sendo 89 voluntários.
Apesar do balanço positivo divulgado pelo Ministério da Saúde, Rubens Valente e Eviline Paixão, da Agência Pública (23/02/2023), relataram que “os Yanomami continuam morrendo mesmo com as ações de emergência do governo federal”. De acordo com Junior Hekuari, os profissionais de saúde passavam por dificuldades para acessar regiões mais remotas devido à presença dos garimpeiros.
Dário Yanomami confirmou esse dado ao dizer que comunidades como Homoxi, Haximu, Xitei estavam “fechadas” e ainda não conseguiram assistência desde janeiro de 2023. Na reportagem, Dário explicou que uma “comunidade fechada” está em área de garimpo ilegal.
Desde que foram anunciados como membros da Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami, diversas organizações indígenas também se pronunciaram contra a presença dos senadores anteriormente referidos na Comissão, alegando que eles tinham por intenção utilizar esse espaço para defender a manutenção do garimpo em áreas indígenas. Em 23 de fevereiro de 2023, o Conselho Indigenista Missionário (Cimi) publicou nota pedindo a recomposição da Comissão Temporária e demonstrou apoio às manifestações de repúdio.
A posição do Cimi defendia que o senador Chico Rodrigues (PSB/RR) era acusado de ser dono de aeronaves que atuavam a serviço do garimpo na TI Yanomami. Além disso, o Cimi ressaltava que o próprio senador gravou um vídeo em um garimpo dentro da TI Raposa Serra do Sol e o fez circular em redes sociais, configurando ato em flagrante de invasão e exploração ilegal de ouro dentro de terras indígenas. O Cimi relembra ainda a repercussão nacional (outubro de 2022) do caso em que o senador tentou esconder R$ 33.000,00 dentro de sua roupa, ao ser surpreendido pela PF em casa.
O Cimi ressaltava que o senador Hiran Gonçalves (PP/RR) defendia o PL 490/2007, que pretende alterar os procedimentos de demarcação de terras indígenas. Durante sessão da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ, junho de 2021), chegou a afirmar que os povos indígenas eram “empecilho para o desenvolvimento do estado de Roraima”.
Para concluir, o Cimi destacava que o senador Mecias de Jesus (Republicanos/RR) é autor do Projeto de Lei 1331/2022, que dispõe sobre a pesquisa e a lavra de recursos minerais em terras indígenas, bem como já declarou ser contrário à destruição das máquinas autuadas em serviço ilícito no garimpo.
Na opinião do Cimi, “mais do que falar do eventual conflito de interesses, [esses fatos] resulta em evidências de que há intenção espúria por parte destes parlamentares de utilizar um mecanismo de controle e acompanhamento do Poder Legislativo para, com ele, defender a manutenção do garimpo como solução”.
No mesmo dia 23 de fevereiro de 2023, garimpeiros armados furaram o bloqueio de fiscalização no rio Uraricoera, na TI Yanomami, e atiraram contra agentes do Ibama. De acordo com nota publicada no blog Combate Racismo Ambiental (24/02/2023), os fiscais revidaram e um dos invasores foi baleado. Eles estavam numa embarcação de 12 metros, com cassiterita, identificada por drones operados pelo Ibama.
Segundo o recém-empossado presidente do Ibama, Rodrigo Agostinho: “Foi um ataque criminoso programado. Todos aqueles que tentarem furar o bloqueio serão presos. Acabar com o garimpo ilegal é uma determinação do presidente Lula”. Cabe ressaltar que o ex-deputado federal Rodrigo Agostinho (PSB-SP) foi anunciado como novo presidente do Ibama em 14 de fevereiro, tendo sua nomeação publicada no DOU no dia seguinte ao ataque ocorrido contra o posto do Ibama, 24 de fevereiro de 2023.
A partir de análises feitas por indígenas, pesquisadores, instituições ligadas à mineração, membros do governo e procuradores da república, a reportagem de Ana Magalhães, Daniel Camargos, Diego Junqueira e Hyury Potter para o Repórter Brasil (27/02/2023), listou uma série de ações consideradas fundamentais para “derrotar o garimpo ilegal” em terras indígenas. Para mudar a atual condição da exploração mineral em território indígena, seria necessária uma “operação de guerra”. Nesse sentido, a reportagem lista as principais propostas:
“1. Mudar a lei para acabar com a ‘boa-fé’ do comprador, por meio de medida provisória; 2. Implementar nota fiscal eletrônica e rastreabilidade do ouro; 3. Cobrar Banco Central e CVM para fiscalizar primeiras compradoras de ouro; 4. Envolver as [empresas] compradoras finais no controle da cadeia produtiva; 5. Fortalecer a Agência Nacional de Mineração; 6. Proibir por lei uso de maquinário pesado em garimpos e controlar sua venda; 7. Tornar o crime hediondo e aumentar a pena; 8. Criar políticas sociais para ex-garimpeiros; 9. Controlar o transporte aéreo na Amazônia (Anac e FAB)”.
Enquanto circulam análises e propostas para combater o garimpo ilegal em terras indígenas, outros movimentos políticos seguem na contramão. Um exemplo é o ofício assinado pelos senadores da Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami – Chico Rodrigues, Mecias de Jesus e Hiran Gonçalves, ao qual a Agência Pública teve acesso, em que pedem a diversas autoridades em Brasília que os garimpeiros flagrados dentro da TI Yanomami não sofram nenhum processo criminal.
De acordo com Rubens Valente (27/02/2023), o ofício teve como destinatários o procurador-geral da República, Augusto Aras; os ministros José Múcio (Defesa), Flávio Dino (Justiça) e Rui Costa (Casa Civil), além dos presidentes do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), e da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). No ofício, os senadores denominam a TI como “Reserva Yanomami” e destacam preocupação com a situação dos cerca de 20 mil garimpeiros e suas famílias, alegando a necessidade de priorizar assistência aos trabalhadores.
No mesmo dia em que esse ofício foi divulgado pela Agência Pública, a Urihi Associação Yanomami (UAY) pediu ao STF que o senador Chico Rodrigues seja impedido de entrar sozinho no território yanomami. Segundo a nota publicada no Combate Racismo Ambiental (27/02/2023), o pedido aconteceu dias após o parlamentar entrar sem autorização da Funai no território. De acordo com a associação, a visita provocou “elevado desconforto” entre as comunidades indígenas, “aumentando ainda mais a crise na localidade”.
Em 27 de fevereiro de 2023, começou a 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (CDH 52/ONU), quando lideranças e organizações indígenas, entre elas o Cimi e a Rede Eclesial Pan-Amazônica (Repam-Brasil), denunciaram as graves violações de direitos dos povos originários no Brasil. De acordo com o blog Combate Racismo Ambiental, a CDH 52 seguiu até o dia 3 de abril de 2023, em Genebra, Suíça.
Durante o evento foram realizados 27 diálogos interativos com titulares de mandatos de procedimentos especiais e mecanismos de investigação, nove diálogos interativos com o alto-comissário das Nações Unidas para os Direitos Humanos (ACNUDH), Volkler Türk, três diálogos interativos aprimorados e um diálogo de alto nível. A incidência indígena se deu nos espaços destinados aos “Debates Gerais”.
De acordo com Adi Spezia, da assessoria de comunicação do Cimi (31/03/2023), durante o “debate geral” que fez parte da 52ª sessão do CDH 52/ONU, Dário Kopenawa Yanomami denunciou a invasão do garimpo, estupro, doenças e a morte de crianças indígenas do povo Yanomami: “A invasão do garimpo ilegal dentro da Terra Indígena Yanomami se intensificou durante o governo Bolsonaro”. Dário pediu apoio internacional para ajudar o governo brasileiro a chegar às aldeias mais distantes e para a retirada urgente do garimpo da Terra Yanomami.
O documentário “O Rastro do Garimpo”, que conta a história da atuação do MPF na defesa dos povos Yanomami, foi lançado no dia 26 de abril de 2023, durante evento promovido pela Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do MPF (6ªCCR). Com 20 minutos de duração, o curta-metragem foi filmado na aldeia indígena de Surucucu, em fevereiro deste ano:
Em 30 de abril de 2023 ocorre novo caso de violência no território yanomami. De acordo com Valéria Oliveira em nota republicada no blog Combate Racismo Ambiental (30/04/2023), um Yanomami de 36 anos morreu e outros dois, de 24 e 31, foram feridos por armas de fogo na comunidade Uxiu, dentro da TI Yanomami. De acordo com o presidente do Condisi-YY, Júnior Hekurari, os três foram baleados por garimpeiros ilegais. Apenas o nome da vítima fatal foi divulgado: Ilson Xirixana, que era Agente Indígena De Saúde (AIS).
Nesse mesmo dia, a operação Ouro Mil, realizada pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) e pelo Ibama dentro da TI Yanomami, resultou na morte de quatro garimpeiros que atuavam ilegalmente na região. Segundo a PRF e a nota publicada no Poder 360 (01/05/2023), os garimpeiros, “munidos de armamento de grosso calibre”, atiraram contra os agentes que tentavam desembarcar do avião da corporação, e os policiais revidaram. A PRF afirmou que os criminosos atiraram com o objetivo de “repelir a atividade de repressão ao garimpo ilegal”.
–
Última atualização: Maio de 2023.
Atenção:
O conflito atinge também a Venezuela, Estados de Bolívar e Amazonas.
Cronologia
1973 – Departamento Nacional de Estradas e Rodagem (DNER) publica editais de concorrência para a construção da Rodovia Perimetral-Norte.
1975 – Aceleração da ocupação do território tradicional dos Yanomami por meio da implementação de projetos de desenvolvimento regional e de frentes ilegais de garimpagem, especialmente na Serra das Surucucus.
Setembro de 1976 – Ministro do interior Rangel Reis determina que o Governador de Roraima adote medidas necessárias à imediata paralisação das atividades de garimpo na TI Yanomami.
Novembro de 1976 – Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) surge como nova ameaça aos Yanomami.
1977 – Epidemia de sarampo mata 68 Yanomami na Serra das Surucucus.
1978 – Criada a Comissão pela Criação do Parque Yanomami (CCPY).
Maio de 1979 – Funai se posiciona contrariamente à instalação de garimpo de cassiterita na região da Serra das Surucucus, temendo o acirramento dos contatos conflituosos e da violência dos garimpeiros contra os Yanomami.
Agosto de 1979 – Carlos Drummond de Andrade escreve, para a Folha de São Paulo, artigo com o título “Não deixem acabar com os Yanomami”.
1980 – Companhia de Desenvolvimento de Roraima (Codesaima) requer 20 mil hectares na localidade conhecida como Santa Rosa, no rio Uraricoera, para exploração de ouro.
Março de 1980 – Estado brasileiro é notificado por países com representatividade na Organização das Nações Unidas (ONU) para pôr fim à política genocida contra as etnias indígenas.
30 de julho de 1980 – O médico Rubens Belfort Matos Júnior denuncia que a situação gravíssima da expansão da oncocercose (cegueira decorrente de infecção pelo nematódeo Onchocerca volvulus, também conhecida como “cegueira dos rios” ou “mal do garimpeiro”) sobre a população indígena do Norte do País ameaça a população Yanomami.
10 de novembro de 1983 – Presidente João Batista Figueiredo promulga o Decreto n. 88.985, abrindo as terras indígenas à mineração e garimpo.
Dezembro de 1984 – Surto de vírus desconhecido causa a morte de Yanomami na Serra das Surucucus.
Janeiro de 1985 – O presidente da Funai, Nelson Marabuto, demite o chefe da 10ª Delegacia Regional do órgão, situada em Boa Vista/RR, por ele não ter comunicado à direção da Funai a morte das pessoas vítimas de uma epidemia entre os Yanomami.
17 de fevereiro de 1985 – Invasão de garimpeiros na Serra das Surucucus, equipados com pick-ups para entrar na TI pela Estrada Apiaú.
29 de março de 1985 – Tuberculose mata membros do povo Yanomami com a chegada de trabalhadores para reabertura da pista de pouso de Boas Novas.
Maio de 1985 – Ministro da Reforma e do Desenvolvimento Agrário, Nelson Ribeiro, recebe em Brasília dossiê da CCPY em defesa da criação do Parque Indígena Yanomami.
1985 – Governo federal lança o “Programa Calha Norte”, que propõe políticas de defesa da Região Norte do Brasil com ocupação militar de faixa do território nacional situada ao norte da calha dos rios Solimões e Amazonas e que incluía o território dos Yanomami.
Março de 1986 – Ocorre o primeiro encontro de caciques yanomami, reunindo tuxauas (chefes indígenas) e representantes de 14 comunidades yanomami de Roraima e Amazonas.
Fevereiro de 1988 – O governo lança o Plano de Emergência Yanomami, chamado de Plano de Emergência Índio-Garimpeiro.
1988 – Relatório da Comissão Nacional da Verdade, lançado em dezembro de 2014, aponta naquele ano, o Estado como principal responsável pelo genocídio nas terras yanomami, por conta de acordos entre governo federal e mineradoras.
1991 – Demarcação da TI Yanomami pela Funai.
25 de maio de 1992 – TI Yanomami é homologada pelo então presidente Fernando Collor de Mello e posteriormente registrada pela Secretaria do Patrimônio da União (SPU).
17 de agosto de 1993 – Garimpeiros invadem o território yanomami e cometem o Massacre de Haximu, único caso de genocídio reconhecido pelo judiciário brasileiro.
1996 – João Pereira de Morais, Pedro Emiliano Garcia, Eliézio Monteiro Neri, Juvenal Silva e Francisco Alves Rodrigues são condenados pela Justiça Federal em Boa Vista pelo Massacre de Haximu.
Novembro de 1996 – Congresso Nacional instala comissão para discutir a PL 1.610/1996 do então senador Romero Jucá, que regulamenta o dispositivo constitucional que permite mineração em terras indígenas.
Setembro de 1999 – Fundada a Urihi-Saúde Yanomami, organização não governamental brasileira que firma convênio com a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e assume responsabilidade pela assistência direta à saúde dos Yanomami.
2000 – 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em Brasília, rejeita por unanimidade recurso para rever condenação dos garimpeiros condenados pelo Massacre de Haximu.
27 de novembro de 2002 – Os Yanomami de Toototopi denunciam que foram vítimas de coleta de sangue realizada sem consentimento livre e esclarecido por pesquisadores americanos nas décadas de 1960 e 1970. As mostras de sangue permaneciam armazenadas em laboratórios nos Estados Unidos, contrariando preceitos funerários dos Yanomami e seus direitos humanos, trazendo sofrimento ao povo.
Abril de 2003 – Organizações não governamentais conveniadas com a assistência de saúde indígena promovem encontro em Manaus a fim de buscar soluções para problemas relativos à condução das parcerias, destacando falta de apoio da Funasa, responsável pelo Subsistema de Atenção à Saúde Indígena (Sasi), criado em 1999 por meio da “Lei Arouca”.
Junho de 2003 – Comissão das organizações da sociedade civil conveniadas, em audiência requerida junto ao Ministério da Saúde (MS), expôs preocupações levantadas na reunião de abril, em Manaus, para o então secretário executivo do Ministério da Saúde, Dr. Gastão Wagner.
04 de fevereiro de 2004 – Representantes dos Yanomami se reúnem em assembleia em Mucajaí para debater possíveis mudanças com modelo proposto de atenção à saúde dos povos indígenas, em vigor, a partir das portarias da Funasa n°69 e 70 de 20 de janeiro de 2004.
Fevereiro de 2004 – A Urihi comunica fim da parceria com a Funasa e denuncia que atuação da autarquia desestabiliza Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei) Yanomami, já consolidado.
12 de novembro de 2004 – Criação da Hutukara Associação Yanomami (HAY) durante Assembleia Geral na aldeia de Watoriki (no rio Demini).
Novembro de 2005 – CCPY divulga documento apontando crescimento recorde dos casos de malária nas aldeias Yanomami.
2006 – Supremo Tribunal Federal (STF) decide, por unanimidade, que o Massacre de Haximu foi genocídio, mantendo condenação da Justiça Federal em Boa Vista aos garimpeiros envolvidos.
2010 – Os Yanomami conseguem, enfim, a restituição das amostras de sangue armazenadas em laboratórios nos EUA.
2012 – Sobreviventes do Massacre de Haximu, Marisa e Leida Yanomami, relembram o ocorrido em entrevista ao Survival Internacional.
07 e 11 de outubro de 2012 – Hutukara Associação Yanomami (HAY) e Horonami Organização Yanomami (HOY) promovem o “Seminário Direitos Indígenas y políticas nacionales: analizando el caso de los Yanomami de Venezuela y Brasil” para discutir avanços e retrocessos das políticas públicas indigenistas dos dois países.
03 de junho de 2014 – Ministério Público Federal (MPF) recomenda ao Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM) que recuse requerimentos de pesquisa e lavra mineral que incidam sobre terras indígenas pela ausência da regulamentação do tema pelo Congresso Nacional.
04 de março de 2016 – Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) divulga estudo sobre contaminação por mercúrio em indígenas da TI Yanomami e revela que membros dos povos das etnias Yanomami e Ye’kuana, principalmente mulheres e crianças, tinham concentrações de mercúrio biodisponível em amostras de cabelo acima dos limites considerados seguros pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
25 de maio de 2016 – Os Yanomami, ao saberem que o então senador Romero Jucá (PMDB-RR) fora nomeado como ministro do Planejamento pelo presidente interino Michel Temer (PMDB-SP), anunciam que recorriam às forças espirituais da natureza para fazê-lo desistir do posto.
20 de junho de 2016 – Agência Pública divulga levantamento, com base em dados do Instituto Socioambiental (ISA) e do DNPM, mostrando mineradoras pressionando cada vez mais os territórios indígenas do Brasil.
21 e 23 de junho de 2016 – Associação das Mulheres Yanomami realiza primeira assembleia com 60 participantes em Maturacá.
21 de abril de 2017 – Funai suspende atividades de cinco das 19 Bases de Proteção Etnoambiental (Bape) às comunidades indígenas isoladas e de recente contato.
Outubro de 2017 – MPF/RR alerta sobre ameaça de genocídio do povo isolado Moxihatëtëmathëpë pelo avanço do garimpo e move Ação Civil Pública (ACP), com pedido de liminar, contra a União, a Funai e o Estado de Roraima.
14 de março de 2018 – Conselho Indígena de Roraima (CIR) realiza a 47ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima, no Centro Regional do Lago Caracaranã. Mais de 3 mil indígenas manifestam repúdio ao garimpo ilegal na TI Yanomami.
14 de julho de 2018 – Surto de sarampo avança entre indígenas Yanomami na fronteira entre Brasil e Venezuela.
24 de julho de 2018 – A Hutukara Associação Yanomami (HAY) divulga nota sobre epidemia de sarampo entre os Yanomami na Venezuela.
30 de julho de 2018 – CIR repudia ataque de garimpeiros ao povo Yanomami do grupo isolado Moxihatëtëmathëpë e pede providências urgentes às autoridades brasileiras.
26 a 30 de setembro de 2018 – 11º Encontro de Mulheres Yanomami, com aproximadamente 40 mulheres provenientes das comunidades das regiões Demini e Toototopi, bem como 17 mulheres das comunidades da região Missão Catrimani.
15 de novembro de 2018 – Polícia Federal prende, em Roraima, o garimpeiro Emiliano Garcia (antes condenado por genocídio pelo “Massacre de Haximu”), como parte da operação conjunta do Exército, Polícia Federal (PF), Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama) e outras agências federais e estaduais contra a mineração ilegal na Terra Indígena Yanomami.
21 de novembro de 2018 – MPF consegue liminar para reinstalação das Bapes da TI Yanomami.
22 de março de 2019 – Terra Indígena Yanomami é invadida por garimpeiros.
17 de abril de 2019 – O então presidente Jair Bolsonaro defende a abertura da mineração em Terras Indígenas, além da monocultura extensiva, alegando que os povos indígenas no Brasil “são pobres em território rico”.
19 de abril de 2019 – Lideranças Yanomami e Ye’kwana respondem ao presidente em vídeo e carta assinada pelas principais associações desses povos.
26 de novembro de 2019 – As comissões de Direitos Humanos e Minorias, de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável e de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados realizam audiência pública para debater o enfrentamento dos crimes associados ao garimpo de ouro dentro da TI Yanomami.
11 de dezembro de 2019 – MPF recomenda à Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e ao Distrito Sanitário Especial de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Dsei-YY) ações para prevenir e combater surto de malária entre população atendida pelo Dsei.
2019 – Ao longo de todo o ano, o número de garimpeiros invasores da TI Yanomami salta de 7 mil para 20 mil pessoas.
06 de fevereiro de 2020 – O presidente Jair Bolsonaro entrega ao Congresso Nacional o projeto de Lei nº 191/2020, que visa regulamentar a realização de pesquisas, exploração de minérios e construção de hidrelétricas no interior de terras indígenas, instituindo indenização pela restrição do usufruto nas referidas terras.
26 de fevereiro de 2020 – É confirmado o 1º caso de covid-19 no Brasil, em São Paulo.
08 de abril de 2020 – É confirmado o 1º caso de covid-19 entre os Yanomami.
09 de abril de 2020 – Logo após a confirmação, o jovem Yanomami Alvanei Xirixana, de 15 anos, morre.
Maio de 2020 – Três mulheres indígenas do subgrupo Yanomami Sanöma se dirigem para Boa Vista com seus bebês em busca de atendimento médico. Lá, as crianças se contaminam com covid-19 e morrem, sendo enterradas sem o consentimento das mães e desconsiderando os rituais funerários do povo Yanomami.
12 de junho de 2020 – Ocorre o assassinato de dois jovens indígenas na região da Serra do Parima, município de Alto Alegre, devido à ataques de garimpeiros. As vítimas são Original Yanomami, de 24 anos, e Marcos Arokona Yanamami, de 20 anos.
19 de junho de 2020 – Indígenas Yanomami da região do Alto Mucajaí, em Roraima, destroem avião de pequeno porte do garimpo e entregam o piloto às autoridades policiais.
03 de julho de 2020 – Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), por meio do desembargador Jirair Aram Meguerian, fixa prazo de 15 dias para que o governo federal elabore plano emergencial para retirada dos garimpeiros da TI Yanomami.
– O líder Yanomami Dário Kopenawa e a deputada federal Joênia Wapichana (Rede/RR) são recebidos pelo vice-presidente da República Hamilton Mourão (PRTB-RS), em Brasília, que promete auxílio na retirada de garimpeiros da TIY.
2º semestre de 2020 – A HAY inicia campanha com abaixo-assinado intitulada “Fora Garimpo, Fora Covid-19”.
02 de setembro de 2020 – Tropas da 1ª Brigada de Infantaria de Selva realizam apreensões dentro de fazenda em Caracaraí (RR), utilizada na logística da atividade ilegal de garimpo.
Setembro de 2020 – A malária volta a fazer mais vítimas na TI Yanomami, apresentando 13.733 casos no território e nove mortes no ano de 2020, segundo informações do Conselho Distrital de Saúde Indígena Yanomami e Ye’kwana (Condisi-YY).
– A Rede Pró-Yanomami e Ye’kwana aponta que nos últimos cinco meses (de abril a agosto de 2020) são contabilizadas 17 mortes ocasionadas pela covid-19 entre ambos os povos.
29 de outubro de 2020 – A PF deflagra a “Operação Ábdito”, com o objetivo de cumprir mandados de prisões temporárias e buscas e apreensões contra garimpeiros suspeitos de envolvimento nas mortes dos dois indígenas yanomami em junho.
26 de novembro de 2020 – A PF em Roraima deflagra a “Operação Rêmora”, responsável por investigar suspeitos de envolvimento no garimpo ilegal na TI Yanomami.
– Até esta mesma data, o Distrito Sanitário Especial Indígena Yanomami e Ye’kwana (Dsei-YY) notifica 1087 casos de covid-19, um aumento de 250% entre agosto e outubro de 2020.
Dezembro de 2020 – Uma adolescente yanomami é sequestrada por garimpeiros na região da Serra das Surucucus.
28 de janeiro de 2021 – Ofício Condisi –YY aponta que nove crianças morreram com sintomas de covid-19 nas comunidades de Waphuta (4) e Kataroa (5), na região da Serra das Surucucus
Fevereiro de 2021 – O Condisi–YY indica que, no total, 32 Yanomami morreram em decorrência da doença, dentre eles sete bebês com menos de dois anos.
19 de fevereiro de 2021 – STF determina que seja suspensa a Lei 1.453/2021, do estado de Roraima, que autoriza exploração de minérios sem necessidade de elaboração de estudo prévio.
25 de fevereiro de 2021 – Acontece um confronto na comunidade Xirixana de Helepi, resultando em um indígena ferido e um garimpeiro morto.
Março de 2021 – É publicado e lançado pela HAY, em parceria com a Associação Wanasseduume Ye’kwana (Seduume), o relatório “Cicatrizes da Floresta”.
17 de março de 2021 – A Justiça Federal em Roraima determina que a União, a Funai, o Ibama e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) apresentem um cronograma para retirada dos invasores do território dos Yanomami.
18 de abril de 2021 – Durante encerramento do Festival Internacional de Documentários “É tudo verdade”, é exibido o filme “A Última Floresta”, de Luiz Bolognesi, sobre as lutas dos Yanomami.
06 de maio de 2021 – Os Yanomami e os Ye’kwana divulgam a “Carta dos Yanomami e dos Ye’kwana” em repúdio a uma possível visita do presidente Jair Messias Bolsonaro na Terra Indígena Yanomami.
10 de maio de 2021 – Garimpeiros ligados ao Primeiro Comando da Capital (PCC) atacam com armas de fogo a comunidade Palimi ú, dentro da TI Yanomami.
– A HAY envia ofício às autoridades informando sobre o tiroteio na comunidade de Palimi ú, solicitando em caráter de urgência a proteção aos indígenas.
12 de maio de 2021 – A HAY confirma a morte de duas crianças indígenas em Palmi ú, mesma comunidade alvo de garimpeiros dois dias antes.
17 de maio de 2021 – Darío Kopenawa envia novo ofício, em nome da HAY, às autoridades, pedindo apoio emergencial diante dos incidentes na terra indígena.
31 de maio de 2021 – Garimpeiros atacam a base do ICMBio da Estação Ecológica Maracá, no rio Uraricoera, entre Amajari e Alto Alegre, nos limites da TI, roubando e fazendo reféns.
29 de junho de 2021 – MPF inicia investigação sobre funcionária da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) e o garimpo ilegal, apurando denúncia de troca de vacinas contra a covid-19 por ouro por funcionários da Sesai.
– É iniciada a “Operação Omama”, visando a desintrusão da TI Yanomami, envolvendo PF, Exército Brasileiro (EB), Força Aérea Brasileira (FAB), Ibama, Funai e a Força Nacional de Segurança Pública (FNSP).
28 de julho de 2021 – Edgar Yanomami, 25 anos, é atropelado e morto por avião monomotor de garimpeiros na aldeia Homoxi.
09 de agosto de 2021 – Janderson Edmilson Cavalcante Alves, de 30 anos, ligado ao PCC, é preso em Boa Vista (RR) por ataques na TI Yanomami.
12 de outubro de 2021 – Duas crianças Yanomami são “sugadas” e “cuspidas” por uma balsa que operava ilegalmente na região do Parima, em Alto Alegre (RR).
13 de outubro de 2021 – A HAY envia ofício às autoridades comunicando o ocorrido com as duas crianças e pede providências. Um dos corpos é encontrado.
14 de outubro de 2021- É encontrado o corpo do outro menino “sugado” pela balsa.
Janeiro de 2022 – Segundo o MPF, há 216 alertas de mineração ilegal na TI Yanomami somente nesse mês.
Fevereiro de 2022 – Segundo o MPF, são registrados 3.059 alertas de novos pontos de extração mineral na TI Yanomami, desde agosto de 2020 até fevereiro de 2022.
31 de março de 2022 – MPF apresenta à Justiça Federal pedido de providências para proteção dos indígenas e solicita mais operações policiais contra o garimpo ilegal na TI Yanomami.
11 de abril de 2022 – Conflito entre indígenas e garimpeiros ocorre dentro da TI, deixando pelo menos três mortos e cinco feridos, envolvendo as aldeias Tirei e Pixanehabi.
– Os Yanomami lançam relatório “Yanomami sob ataque – Garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e propostas para combatê-lo”.
– Ocorre manifestação de diversos indígenas ameaçados pelo garimpo ilegal em Brasília, como parte do Acampamento Terra Livre (ATL) de 2022.
12 de abril de 2022 – MPF encaminha ao STF petição reiterando a necessidade da retirada imediata de invasores da TI Yanomami.
– Funai declara desconhecer denúncias de abuso sexual contra mulheres e crianças indígenas por parte dos garimpeiros na TI Yanomami.
25 de abril de 2022 – Adolescente de 12 anos é violentada, estuprada e morta por garimpeiros na comunidade Aracaçá. Uma criança de três anos morre afogada. A aldeia é queimada e habitantes desaparecem.
27 de abril de 2022 – Representantes da PF, do MPF, da Funai e da Sesai vão até a Aldeia Aracaçá para averiguar o crime.
05 de maio de 2022 – A ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos (MMFDH), Damares Alves (Republicanos-PR), faz uma declaração pública a respeito do estupro da indígena, minimizando o fato.
– A PF prende, em Boa Vista (RR), Eliézio Neri, foragido, e um dos responsáveis pelo Massacre de Haximu.
06 de maio de 2022 – O líder Júnior Hekurari Yanomami afirma que os 25 indígenas desaparecidos de Aracaçá são encontrados.
06 de maio de 2022 – A PF em Roraima comunica não ter encontrado evidências que comprovassem o estupro seguido de morte da adolescente de 12 anos da comunidade Aracaçá, bem como o desaparecimento do bebê de 3 anos. A HAY cobra apuração mais ampla e aprofundada. O Sistema ONU (Organização das Nações Unidas) no Brasil cobra posicionamento do Estado frente aos casos de violência na TI Yanomami.
07 de maio de 2022 – Associação Nacional dos Servidores Ambientais (Ascema) acusa governo federal de boicotar ações de fiscalização na TI Yanomami.
11 e 12 de maio de 2022 – Previsão de realização de diligências locais por parte de senadores e deputados em Roraima, tanto em Boa Vista quanto na TI Yanomami.
16 de maio de 2022 – Exército Brasileiro nega apoio logístico para que uma comitiva de parlamentares visitasse a comunidade de Aracaçá na TI Yanomami.
18 de maio de 2022 – Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) solicita à Corte Interamericana de Direitos Humanos (Corte IDH) medidas para proteger o povo Yanomami.
19 de maio de 2022 – PF em Roraima realiza segunda fase da operação Urihi Wapopë 2, contra organização acusada de extração ilegal de ouro e cassiterita em garimpos na TI Yanomami.
23 de maio de 2022 – Com base na ação movida pelo MPF, a Justiça Federal em Roraima expede decisão obrigando União, Ibama e Funai a se articularem para atuar no combate a ilícitos ambientais na TI Yanomami.
25 de maio de 2022 – Data que marca 30 anos da homologação da TI Yanomami. Juiz federal Felipe Bouzada Viana, da 2ª Vara Cível em Roraima, aponta risco de genocídio no território. Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara dos Deputados (CMulher/CD) realiza audiência pública para discutir o combate à violência sexual no território Yanomami. Movimento em Defesa de Roraima promove evento em solidariedade aos Yanomami.
15 de junho de 2022 – Funai apresenta documento para o STF e afirma que o órgão “não dispõe de requisitos mínimos para proteger satisfatoriamente a população Yanomami”.
1º de julho de 2022 – A Corte IDH emite decisão e cobra resposta do Brasil para “proteger a vida, a integridade pessoal e a saúde dos membros dos povos indígenas Yanomami, Ye’kwana e Munduruku”.
05 de julho de 2022 – O Governador de Roraima, Antonio Denarium (PP-RR), sanciona a lei estadual 1.701/2022, que proíbe a destruição de equipamentos de garimpeiros apreendidos nas fiscalizações ambientais realizadas no estado.
Agosto de 2022 – A deputada federal Erika Kokay (PT-DF) denuncia a precariedade de trabalho e esvaziamento da Funai em audiência na Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público da Câmara dos Deputados (CTasp/CD).
Agosto de 2022 – Fiocruz divulga estudo e mostra contaminação de mercúrio em peixes do rio Uraricoera acima dos limites de segurança estipulados pela Organização Mundial da Saúde (OMS).
Agosto de 2022 – Rodrigo Cataratas, líder do “Movimento Garimpo é Legal”, é indiciado pela PF por crime ambiental, contra a ordem econômica e por munição ilegal. O empresário alega ter obtido Permissão de Lavra Garimpeira (PLG) da Agência Nacional de Mineração (ANM) para extrair ouro, cassiterita e diamantes na serra do Tepequém.
23 de setembro de 2022 – Davi Kopenawa recebe título doutor Honoris Causa da Universidade Federal de Roraima (UFRR).
Entre julho e outubro de 2022 – A Hutukara Associação Yanomami, por meio de ofício ao MPF, denuncia que a falta de acesso à saúde na TI Yanomami provocou a morte de nove crianças indígenas.
02 de outubro de 2022 – Garimpeiros atacam a comunidade Napolepi, em Alto Alegre, na TI Yanomami. Um indígena é morto e um jovem é ferido.
11 de outubro de 2022 – Dois homens atacam a tiros um grupo de indígenas yanomami acampados na zona sul de Boa Vista (RR). Uma mulher morre e um homem fica ferido.
14 de outubro de 2022 – A Operação Guardiões do Bioma prende 16 pessoas com seis toneladas de minério atuando ilegalmente na TI Yanomami.
8 de novembro de 2022 – Portaria institui o Gabinete de Transição Governamental do Presidente Eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. O grupo temático “Povos Originários” tem a deputada federal Joênia Wapichana e Davi Yanomani como participantes.
30 de novembro de 2022 – MPF emite recomendação ao ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, para que seja nomeado um interventor para chefiar o Dsei-YY.
Dezembro de 2022 – MPF em Roraima denuncia Rodrigo Cataratas à Justiça Federal por suspeita de liderar organização criminosa que explora o garimpo ilegal na TI Yanomami.
06 de dezembro de 2022 – Grupo de garimpeiros incendeia a Unidade Básica de Saúde Indígena (UBSI) de Homoxi na TI Yanomami como represália às operações da PF e Ibama contra o garimpo.
10 de dezembro de 2022 – A Urihi Associação Yanomami divulga fotos de crianças indígenas com desnutrição grave.
12 de dezembro de 2022 – Greenpeace Brasil divulga fotos aéreas de estrada ilegal dentro da TI Yanomami. Carta assinada por 49 mulheres yanomami é entregue ao presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT-SP).
15 de dezembro de 2022 – Edison Prola, secretário de Segurança Pública de Roraima (SSP-RR), divulga informação sigilosa sobre plano de operação para retirada de garimpeiros da TI Yanomami.
16 de dezembro de 2020 – 2ª Vara da Justiça Federal em Roraima emite decisão obrigando União a fornecer alimentação aos Yanomami em tratamento médico.
17 de dezembro de 2022 – Jovem indígena, de 21 anos, morre após ataque a tiros de garimpeiros na região do Xitei, na TI Yanomami.
01 de janeiro de 2023 – Luiz Inácio Lula da Silva assume a Presidência da República para um terceiro mandato não consecutivo. Nísia Trindade Lima, ex-presidente da Fiocruz, assume o Ministério da Saúde.
Janeiro de 2023 – Ministério da Saúde promove missão e envia equipe para elaborar diagnóstico sobre a situação de saúde no território yanomami.
20 de janeiro de 2023 – O recém-criado Ministério dos Povos Indígenas (MPI), presidido por Sônia Guajajara (Psol-MA), divulga que cerca de 570 crianças da TI Yanomami foram mortas por contaminação de mercúrio, desnutrição e fome durante o governo de Jair Bolsonaro. O Ministério da Saúde declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (Espin) no território indígena Yanomami.
23 de janeiro de 2023 – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva exonera 10 coordenadores de saúde indígena do Ministério da Saúde e diz que houve “crime premeditado” e “genocídio” na TI Yanomami. MPF e Cimi lançam respectivas notas públicas sobre o caso.
24 de janeiro de 2023 – Pesquisador da Fiocruz, Paulo Basta, diz que estado nutricional do povo Yanomami é dos mais graves do mundo. Novo secretário nacional de Saúde Indígena, Ricardo Weibe Tapeba, defende plano de desintrusão do território.
25 de janeiro de 2023 – PF determina abertura de inquérito para apurar crimes de omissão e genocídio na crise humanitária vivida pelo povo Yanomami. A 4ª Câmara de Coordenação e Revisão (Meio Ambiente e Patrimônio Cultural) do MPF (4CCR/MPF) lança nota pública e reforça ações do MPF diante da crise vivida pelos Yanomami.
26 de janeiro de 2023 – Ministra da Saúde, Nísia Trindade, anuncia medidas para reforçar atendimento ao povo Yanomami. Mais de 19 mil profissionais de saúde se inscrevem como voluntários no programa Força Nacional do Sistema Único de Saúde (FN-SUS). A Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) protocola representação criminal na Procuradoria Geral da República (PGR) contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e seus aliados. A ministra do Meio Ambiente e Mudança do Clima (MMA), Marina Silva (Rede-AC), denuncia crime contra o povo Yanomami no Fórum Social Mundial (FSM).
25 a 27 de janeiro de 2023 – Conselho Nacional de Direito Humanos (CNDH) e Defensoria Pública da União (DPU) realizam oitiva em Boa Vista (RR), juntamente com as associações do povo Yanomami e outras organizações indigenistas.
27 de janeiro de 2023 – Presidente da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) e membros do Observatório Judaico de Direitos Humanos comparam situação dos Yanomami ao Holocausto.
28 de janeiro de 2023 –Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania (MDHC) denuncia práticas de omissão do antigo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos (MMFDH).
30 de janeiro de 2023 – Ministro Luís Roberto Barroso, do STF, determina investigação dos crimes de genocídio de indígenas. O CIR denuncia que crianças Yanomami estão sendo retiradas de seus pais e encaminhadas para adoção. É inaugurado o Centro de Operações de Emergências Yanomami (COE) em Boa Vista – RR. O Procurador da República, Alisson Marugal, pede apuração de crime do governador de Roraima, Antônio Denarium.
31 de janeiro de 2023 – MDHC apura ameaças aos profissionais de saúde e servidores públicos federais que atendiam indígenas yanomami. DPU solicita “toda a estrutura logística possível, sem qualquer limitação orçamentária” ao governo federal. Presidente Lula decreta medidas para enfrentamento do garimpo ilegal e Espin Yanomami.
1° de fevereiro de 2023 – COE Yanomami publica portaria com novas regras para acesso ao território Yanomami.
02 de fevereiro de 2023 – Dário Kopenawa diz que governo Lula tem que retirar os garimpeiros na TI Yanomami imediatamente. Ibama cria Sala de Situação e Controle da Terra Indígena Yanomami para coordenar, planejar e acompanhar as ações na TI Yanomami.
03 de fevereiro de 2023 – O secretário Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, Ariel de Castro, denuncia crimes de estupro de jovens indígenas. Operação Yoasi revela ligação entre senadores e empresários no desvio de medicamentos na TI Yanomami.
05 de fevereiro de 2023 – Três indígenas Yanomami são assassinados na região do Homoxi, dentro da Terra Indígena Yanomami. Garimpeiros são suspeitos.
06 fevereiro de 2023 – Investigações da PF e MPF revelam nomes de empresas envolvidas no garimpo ilegal e/ou lavagem de dinheiro relacionado com o garimpo em terras Yanomami: Carol, Ourominas e FD’Gold.
08 de fevereiro de 2023 – Ibama inicia a “Operação Xapiri” para “retomar território” Yanomami e expulsar garimpeiros. O órgão relata que a operação deve se estender por vários meses. Comitiva interministerial acompanha ações do governo federal junto ao povo Yanomami.
09 de fevereiro de 2023 – Representante da Funai, Lucia Alberta Andrade, diz que grupos indígenas temem invasão de garimpeiros em outros territórios indígenas.
10 de fevereiro de 2023 – PF inicia “Operação Libertação” com foco na inutilização da infraestrutura do garimpo ilegal.
11 de fevereiro de 2023 – Subprocurador-geral da República, Luciano Mariz Maia, diz que o caso de genocídio do povo Yanomami terá punição. Ministra da Saúde nomeia novo coordenador do Dsei-YY. Conselho Nacional de Justiça (CNJ) investiga 4ª Vara Federal em Roraima em processos referentes ao garimpo ilegal e à proteção da TI Yanomami.
15 de fevereiro de 2023 – Senador Chico Rodrigues (PSB-RR) é eleito presidente da Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami do Senado Federal (SF). O senador ficou conhecido nacionalmente por ter sido flagrado com dinheiro em uma operação da PF contra o desvio de recursos de combate à covid-19. Nísia Trindade se reúne com instituições para planos de combate à crise na TI Yanomami.
17 de fevereiro de 2023 – Instituições indígenas pedem afastamento de alguns senadores da Comissão Temporária sobre a Situação dos Yanomami (Chico Rodrigues, Dr. Hiran e Mecias de Jesus).
20 de fevereiro de 2023 – MS divulga que mais de cinco mil atendimentos médicos aos indígenas encontrados em grave situação de desassistência foram realizados na TI Yanomami.
23 de fevereiro de 2023 – Conselho Indigenista Missionário (Cimi) pede recomposição da Comissão Externa Temporária de acompanhamento à situação do povo Yanomami do Senado. Garimpeiros atacam base de fiscalização do Ibama na TI Yanomami.
27 de fevereiro de 2023 – Os senadores por Roraima Chico Rodrigues, Dr. Hiran e Mecias de Jesus pedem que os garimpeiros não sofram processos criminais. A Urihi Associação Yanomami (UA) pede ao STF que o senador Chico Rodrigues seja impedido de entrar sozinho no território Yanomami. Organizações indígenas participam da 52ª sessão do Conselho de Direitos Humanos da ONU (CDH 52) e denunciam violações de direitos dos povos originários no Brasil.
26 de abril de 2023 – MPF lança o documentário “O Rastro do Garimpo”.
30 de abril de 2023 – Garimpeiros atacam indígenas e matam agente de saúde na TI Yanomami. A operação Ouro Mil da PRF e Ibama resulta na morte de quatro garimpeiros.
Fontes
A TUBERCULOSE está acabando com os Yanomami. Folha de Boa Vista, 29 mar. 1985. Disponível em: http://bit.ly/2RHhP9e. Acesso em: 29 jan. 2020.
ABDALA, Vitor. Novo genocídio yanomami deve ter punição, diz Luciano Mariz Maia, procurador de Haximu. Agência Brasil, 11 fev. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3kwBdqK. Acesso em: 27 fev. 2023.
AGOSTINHO, Pedro. A questão Yanomami: dois caminhos de política indigenista. Anuário UNB, 1981. Disponível em: http://twixar.me/XqYK. Acesso em: 18 abr. 2019.
ALBERT, Bruce. O ouro canibal e a queda do céu: uma crítica xamânica da economia política da natureza (Yanomami). In: ALBERT, Bruce; RAMOS, Alcida Rita (Org.). Pacificando o Branco: cosmologias do contato norte-amazônico. São Paulo: UNESP, 2002. p. 239-276.
ALBERT, Bruce. Reflexões sobre Trevas no Eldorado: questões sobre bioética e assistência à saúde entre os Yanomami. In: Pesquisa e Ética: O Caso Yanomami (Contribuições brasileiras à controvérsia sobre o livro “Trevas no El Dorado”) Documentos Yanomami N.º 02 CCPY – Comissão Pró-Yanomami Série Documentos Pró-Yanomami, 2002. Disponível em: http://bit.ly/2RKFTbf. Acesso em: 28 jan. 2020.
AMARAL, Marina. Dobradinha Denarium/Bolsonaro em Roraima mantém garimpo em Terra Yanomami. Agência Pública, republicado por Combate Racismo Ambiental, 28 set. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3xuMavU. Acesso em: 07 fev. 2023.
AMAZÔNIA REAL. Ataque à comunidade Palimi ú na TI Yanomami. Youtube: Canal Amazônia Real, 10 de maio de 2021 (4min56s). Disponível em: https://bit.ly/3fVpcEZ. Acesso em: 31 maio 2021.
ANGELO, Mauricio. Para a saúde da mulher e da criança indígenas sobram promessas e faltam soluções. Mobilização Nacional Indígena, 28 abr. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2Pu2u92. Acesso em: 17 abr. 2019.
APIB apresenta representação criminal contra Bolsonaro e seus aliados pelo genocídio Yanomami. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil, 26 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3ExiNwG. Acesso em: 13 fev. 2023.
APÓS denúncia de abuso sexual, MPF diz ter pedido novas ações contra o garimpo na Terra Indígena Yanomami. Carta Capital, 11 abr. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3xqj41O. Acesso em: 13 abr.2022.
ARAGÃO, Tainá. Justiça exige retirada de garimpeiros da terra Yanomami. Amazônia Real, 17 mar. 2021. Disponível em: https://bit.ly/2SV7IQY. Acesso em: 31 maio 2021.
ARAÚJO, Fabrício; OLIVEIRA, Valéria. TRF-1 determina que governo federal retire garimpeiros da Terra Yanomami em Roraima. G1 RR, 03 jul. 2020. Disponível em: https://glo.bo/3yNpXbP. Acesso em: 31 maio 2021.
ASSOCIAÇÃO das Mulheres Yanomami realiza a primeira assembleia em Maturacá. FOIRN, 17 jun. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2IGM2lx. Acesso em: 17 abr. 2019.
BAETA, Alenice. O “Massacre de Haximu” perdura: a contaminação por mercúrio do povo Yanomami. Combate Racismo Ambiental, 11 jul. 2017. Disponível em: http://bit.ly/2PuDkHo. Acesso em: 17 abr. 2019.
BARBOSA, Catarina. Genocídio Yanomami gera primeiro movimento humanitário de reconstrução do Brasil. Sumaúma, 25 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3YXscWE. Acesso em: 13 fev. 2023.
BASTA, Paulo Cesar (Org.). Avaliação da exposição ambiental ao mercúrio proveniente de atividade garimpeira de ouro na Terra Indígena Yanomami, Roraima, Amazônia, Brasil. Escola Nacional de Saúde Pública, 22 mar. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2UaHmZV. Acesso em: 31 mar. 2020.
BASTA, P. C; ORELLANA, J.D.Y. Pesquisa sobre os determinantes sociais da desnutrição de crianças indígenas de até 5 anos de idade em oito aldeias inseridas no Distrito Sanitário Especial Indígena (DSEI) Yanomami. Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 30 mar. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3ANEwyc. Acesso em: 02 maio 2023.
BRASIL, Kátia; MEDEIROS, Felipe. Hutukara pede investigação para crime de ódio contra yanomami em Boa Vista. Amazônia Real, republicado por Combate Racismo Ambiental, 14 out. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3XCSwUy. Acesso em: 10 fev. 2023.
BEDINELLI, Talita. “Estamos tomando água poluída, de mercúrio. O povo yanomami vai sumir”. El País, 24 abr. 2017. Disponível em: http://bit.ly/2vmg6ds. Acesso em: 17 abr. 2019.
BENTES, Vianey. PF deflagra operação contra organização acusada de garimpo ilegal na Terra Yanomami. CNN, republicado por Combate Racismo Ambiental, 19 maio 2022. Disponível em: http://bit.ly/3xteqPb. Acesso em: 08 fev. 2023.
BIASETTO, Daniel; MARTINS, Bruna. Terror ianomâmi: Garimpo ilegal toma pistas de pouso e postos de saúde para guardar máquinas e gasolina. O Globo, 12 abr. 2022. Disponível em: http://glo.bo/37itXYR. Acesso em: 13 abr.2022.
BIASETTO, Daniel; MERGULHÃO, Alfredo. Terror ianomâmi: Conflito em garimpo deixa ao menos dois mortos; veja vídeo. O Globo, 11 abr. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3p4AVsO. Acesso em: 13 abr.2022.
BIERNATH, André. Brasil ignorou decisão de corte internacional sobre os yanomami desde julho. BBC News Brasil, 24 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3ko0vXT. Acesso em: 13 fev. 2023.
BOLETIM Yanomami Urgente Nº 1. Comissão Pró Yanomami (CCPY), 20 abr. 1988. Disponível em: http://bit.ly/2RJw2T0. Acesso em: 29 jan. 2019.
BORGES, André. Alvos de ataques de garimpeiros há uma semana, índios Yanomami pedem socorro. Terra, 17 maio 2021. Disponível em: https://bit.ly/3fGAcqF. Acesso em: 31 maio 2021.
BRASIL, Kátia, COSTA, Emily; FARIAS, Elaíze. Garimpeiros ligados ao PCC atacam aldeia Yanomami. Amazônia Real, 10 maio 2021. Disponível em: https://bit.ly/3uCOmxh. Acesso em: 31 maio 2021.
BRASIL. Controladoria Geral da União. Portal da Transparência. Fundação Nacional do Índio. Disponível em: https://bit.ly/39CzmLl. Acesso em: 17 jun. 2022.
BRASIL. Ministério da Defesa. Exército Brasileiro. Brigada de Infantaria de Selva apreende aeronaves usadas na logística de garimpo ilegal em Roraima. Boa Vista, 04 set. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3vFmZ7i. Acesso em: 31 maio 2021.
BRASIL. Ministério da Justiça. Fundação Nacional do Índio. Coordenação da Frente de Proteção Etnoambiental Yanomami Yekuana. Relatório 2021/CFPE-YY/FUNAI. Brasília, 10 maio 2021. Disponível em: https://bit.ly/3p88B4I. Acesso em: 31 maio 2021.
BRASIL. Ministério Público Federal. Nota Pública – Terra Indígena Yanomami. Câmara de Populações Indígenas e Comunidades Tradicionais do Ministério Público Federal (6CCR/MPF). 23 jan. 2023. Disponível em: https://bit.ly/41l04yo. Acesso em: 13 fev. 2023.
BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria da República no Estado do Amazonas. Recomendação Legal Nº 10/2019 5º OFÍCIO/PR/AM. Disponível em: http://bit.ly/2tklD72. Acesso em: 31 jan. 2020.
BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria da República em Roraima. Em novo pedido do MPF, Justiça determina retomada das operações para retirada de garimpeiros da TI Yanomami. Ministério Público Federal, 24 maio 2022. Disponível em: http://bit.ly/40WhfFZ. Acesso em: 06 fev. 2023.
______. Representação falas Denarium. Ministério Público Federal, 30 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3ZnKctb. Acesso em: 10 fev. 2023.
______. Justiça acolhe pedido do MPF para alimentação a indígenas em postos de saúde. Ministério Público Federal, 16 dez. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3XYdsW6. Acesso em: 08 fev. 2023.
______. MPF recomenda intervenção do Ministério da Saúde no Distrito Sanitário Yanomami. Ministério Público Federal, 30 nov. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3XD2rcL. Acesso em: 10 fev. 2023.
______. #AbrilIndígena: MPF faz novos pedidos na Justiça para combater crise humanitária em território Yanomami. Ministério Público Federal, 11 abr. 2022. Disponível em: https://bit.ly/38Httf6. Acesso em: 13 abr. 2022.
BRASIL. Ministério Público Federal. Procuradoria Geral da República. #AbrilIndígena: MPF reitera ao STF pedido de desintrusão de garimpeiros da Terra Indígena Yanomami (RR). PGR, republicado por Combate Racismo Ambiental, 12 abr. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3xr9BXR. Acesso em: 13 abr. 2022.
______. Defesa territorial é fundamental para assegurar proteção de mulheres e crianças yanomami, defende MPF em audiência pública. Ministério Público Federal, 26 maio 2022. Disponível em: http://bit.ly/3XBRMii. Acesso em: 08 fev. 2023.
BRASIL. Portaria Conjunta – Funai/Sesai nº 1, de 30 de janeiro de 2023. Ministério da Justiça e Segurança Pública / Fundação Nacional dos Povos Indígenas. Disponível em: https://bit.ly/3lYJDHD. Acesso em: 24 fev. 2023.
BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto Nº 88.985, DE 10 DE NOVEMBRO DE 1983. Regulamenta os artigos 44 e 45 da Lei nº 6.001, de 19 de dezembro de 1973, e dá outras providências. Disponível em: http://bit.ly/36hggoy. Acesso em: 31 jan. 2020.
BRESSANE, Caco; BARROS, Ciro; BARCELOS, Iuri. Em terra de índio, a mineração bate à porta. Agência Pública, republicado por Combate Racismo Ambiental, 20 jun. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2Zx7IFH. Acesso em: 17 abr. 2019.
BRITO, Maria Edna; APEL, Ligia. 30 anos de homologação da TI Yanomami: Movimento em Defesa de Roraima promove dia de reflexão e solidariedade. Comissão Pastoral da Terra, 31 maio 2022. Disponível em: http://bit.ly/3Xz9cfJ. Acesso em: 08 fev. 2023.
BRUM, Eliane. Mães Yanomami imploram pelos corpos de seus bebês. El País, 24 jun. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3uODRHi. Acesso em: 02 jun. 2021.
CAETANO, Bruna. Crescimento do garimpo ilegal na Amazônia atinge duramente áreas indígenas. Brasil de Fato, 14 dez. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2vmhpcp. Acesso em: 19 abr. 2019.
______. Crescimento do garimpo ilegal na Amazônia atinge duramente áreas indígenas. Brasil de Fato, 14 dez. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2vmhpcp. Acesso em: 19 abr. 2019.
CALAZANS, Michele. Estado brasileiro tenta mascarar real situação dos povos indígenas em evento da ONU. Cimi, 22 set. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2IHDM4M. Acesso em: 25 abr. 2019.
CALVI, Pedro. Violência, problemas para a saúde e meio ambiente: a exploração de ouro em território Yanomami. Comissão de Direitos Humanos e Minorias da Câmara dos Deputados, 27 nov. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2Oc8ljV. Acesso em 31 jan. 2020.
CAMPOS, João Pedroso. Funai diz não dispor de requisitos mínimos para proteger Terra Yanomami. Veja, 16 jun. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3k3H06T. Acesso em: 15 fev. 2023.
CARTA dos Yanomami e dos Ye’kwana em repúdio a uma possível visita do presidente Jair Messias Bolsonaro na Terra Indígena Yanomami. Boa Vista, 06 maio 2021. Disponível em: https://bit.ly/34vX4mq. Acesso em: 31 maio 2021.
CASTRO, Mariana. Terra Yanomami: “Famílias inteiras com covid onde o garimpo está fora de controle”. Brasil de Fato, 11 fev. 2021. Disponível em: https://bit.ly/3cBh4bZ. Acesso em: 02 jun. 2021.
CASTRO, Carol. Governo Bolsonaro ignorou 21 ofícios com pedido de ajuda dos yanomami. The Intercept Brasil, 17 ago. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3APUrMo. Acesso em: 02 maio 2023.
CENTENO, Ayrton. Marina denuncia: quatro em cada dez crianças Yanomami estão contaminadas por mercúrio. Brasil de Fato, 27 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3KDuLJf. Acesso em: 13 fev. 2023.
CENTRO de Operações de Emergências Yanomami inicia atividades em Roraima. G1, Boa Vista, RR, 30 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3KyoP3U. Acesso em: 10 fev. 2023.
CHADE, Jamil. Yanomami: Crise humanitária em Roraima será enviada para Tribunal em Haia. Uol, 23 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3KvSavT. Acesso em: 13 fev. 2023.
CHAVES, Alan. Operação apreende ouro, embarcações e até mercúrio em garimpos na Terra Indígena Yanomami, em RR. G1, 02 maio 2018. Disponível em: https://glo.bo/2vlkNEw. Acesso em: 17 abr. 2019.
CIDH solicita a Corte IDH medidas provisórias em favor dos Povos Indígenas Yanomami, Ye`kwana e Munduruku no Brasil devido à extrema gravidade em que se encontram. Organização dos Estados Americanos, 18 maio 2022. Disponível em: http://bit.ly/3xpEwmw. Acesso em: 15 fev. 2023.
CIMI Regional Norte I e apoiadores da causa indígena se solidarizam com povo Yanomami. Conselho Indigenista Missionário, Regional Norte I, 23 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3kkLztJ. Acesso em: 13 fev. 2023.
CIMI pede recomposição da Comissão Externa Temporária de acompanhamento à situação do povo Yanomami. Conselho Indigenista Missionário, 23 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3SCOb2L. Acesso em: 27 fev. 2023.
CIR repudia ataque de garimpeiros ao povo Yanomami do grupo isolado Moxihatëtëmathëpë e pede providências urgentes às autoridades brasileiras. Conselho Indígena de Roraima, 30 jul. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2vqGkeF. Acesso em: 17 abr. 2019.
COMITIVA interministerial acompanha trabalho de apoio aos Yanomami em Roraima. Funai, 09 fev. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3kwr39r. Acesso em: 15 fev. 2023.
COMUNICADO sobre as mentiras e omissões acerca da questão Yanomami. Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, republicado por Combate Racismo Ambiental, 28 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/41kJcrq. Acesso em: 08 jan. 2023.
CONVÊNIO Sesai. Missão Evangélica Caiuá. Dourados – MS, S/I. Disponível em: http://bit.ly/3EHFD53. Acesso em: 22 fev. 2023.
COSTA, Emily. ‘Conquista’, diz líder Yanomami ao receber sangue repatriado em RR. G1, republicado por Combate Racismo Ambiental, 19 abr. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2IFq9TH. Acesso em: 17 abr. 2019.
______. Como um avião do garimpo atropelou e matou um Yanomami. Amazônia Real, 04 ago. 2021. Disponível em: https://bit.ly/3rsPWTO. Acesso em: 13 abr. 2022.
______. PCC amplia atuação na Terra Indígena Yanomami. Amazônia Real, 17 ago. 2021. Disponível em: https://bit.ly/3rnok2r. Acesso em: 13 abr. 2022.
______. PF realiza operação contra garimpo ilegal em terras dos Yanomami. Amazônia Real, 26 de novembro de 2020. Disponível em: https://bit.ly/2SKaJnh. Acesso em: 31 maio 2021.
______. Surto de sarampo avança entre índios Yanomami na fronteira entre Brasil e Venezuela. G1, 14 jul. 2018. Disponível em: https://glo.bo/2Psrde2. Acesso em: 17 abr. 2019.
COSTA, Emily; FARIAS, Elaíze. Garimpeiros caçam animais para ‘brincar’, diz indígena da TI Yanomami. Amazônia Real, republicado por Combate Racismo Ambiental em 13 abr. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3jzruLZ. Acesso em: 13 abr. 2022.
CRIAÇÃO de um parque Ianomami depende do CSN. Jornal de Brasília, 14 mar. 1982. Disponível em: http://twixar.me/6KPK. Acesso em: 21 abr. 2019.
CRIADA Associação Yanomami. Comissão Pró-Yanomami, Boletim nº 55, 19 nov. 2004. Disponível em: http://bit.ly/2S2Epbe. Acesso em: 29 jan. 2020.
CRISE na Funai fecha 5 bases de proteção a índios isolados. Folha de São Paulo, 21 abr. 2017. Disponível em: http://bit.ly/37Hq7DG. Acesso em 31 jan. 2019.
DANTAS, Jorge Eduardo. Estrada ilegal ameaça povo isolado na Terra Indígena Yanomami. Greenpeace Brasil, 12 dez. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3Ewzkkx. Acesso em: 10 fev. 2023.
DAVI Kopenawa é o primeiro indígena a receber título de Doutor Honoris Causa pela UFRR. Andes, 27 set. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3IpS9rX. Acesso em: 10 fev. 2023.
DAVI Yanomami apoia protestos que tomam conta do País e incentiva união de índios e brancos. Instituto Socioambiental, republicado por Combate Racismo Ambiental, 28 jun. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2vmQgWS. Acesso em: 17 abr. 2019.
DECLARAÇÃO da Survival sobre a crise humanitária na Terra Indígena Yanomami: um genocídio anunciado. Survival, republicado por Combate Racismo Ambiental, 25 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3m2Ws3z. Acesso em: 10 fev. 2023.
DECRETO coloca militares no combate ao garimpo na Terra Yanomami. ClimaInfo, 01 fev. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3YWAluk. Acesso em: 24 fev. 2023.
EM NOTA, mais de 60 organizações repudiam a fala desumana do governador Antônio Denarium sobre o povo Yanomami. Cimi, republicado por Combate Racismo Ambiental, 01 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3kqHwMl. Acesso em: 15 fev. 2023.
EMPRESAS acusadas de lavagem de ouro estão envolvidas com o garimpo na Terra Yanomami. ClimaInfo, republicado por Combate Racismo Ambiental, 06 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3EFKFyH. Acesso em: 13 fev. 2023.
ENFERMEIRO e professor de história é nomeado coordenador do Dsei Yanomami. Folha Web, 11 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3Izolbo. Acesso em: 22 fev. 2023.
ESQUERDA na América Latina: dos militantes clássicos à mobilização baseada em pautas concretas. Entrevista especial com Bernardo Gutiérrez. IHU Online, 13 abr. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2ZwmJYy. Acesso em: 17 abr. 2019.
ESTUDO avalia que títulos minerários em Terras Indígenas e Unidades de Conservação (UCs) são risco potencial. WWF Brasil, republicado por Ecodebate, 10 out. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2vhAA7c. Acesso em: 19 abr. 2019.
ESTUDO denuncia epidemia de garimpos na Amazônia brasileira. Deutsche Welle, 11 dez. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2vlmFx2. Acesso em: 19 abr. 2019.
EXÉRCITO destrói garimpo ilegal e detém 60 pessoas em terra indígena de RR. G1, 22 fev. 2018. Disponível em: https://glo.bo/2vldNaI. Acesso em: 17 abr. 2019.
EXÉRCITO recusa dar apoio a visita de parlamentares à Terra Yanomami. ClimaInfo, 16 maio 2022. Disponível em: https://bit.ly/40Znjhk. Acesso em: 07 fev. 2023.
EXPEDIÇÃO Yanomami investiga ameaças à maior Terra Indígena do Brasil. Instituto Socioambiental, 08 jan. 2015. Disponível em: http://twixar.me/41PK. Acesso em: 18 abr. 2019.
FALCÃO, Márcio; VIVAS, Fernanda. Barroso manda investigar possível crime de genocídio de indígenas por parte de autoridades do governo Bolsonaro. G1, Brasília, DF, 30 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3IPgHeb. Acesso em: 13 fev. 2023.
FAZENDEIRO é preso por dar apoio a garimpeiros no acesso à área Yanomami. BV News, 13 jun. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2W7v3vQ. Acesso em: 17 abr. 2019.
FELIZARDO, Nayara. Entrevista: ‘cérebro de fetos yanomami tem 7 vezes mais mercúrio de garimpo que o de adultos’, diz médico. The Intercept Brasil. 07 jul. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3XDOZFA. Acesso em: 10 fev. 2023.
FELLET, João. Porque Yanomâmis fizeram ritual por saída de Jucá. BBC Brasil, 20 maio 2016, republicado por Combate Racismo Ambiental. Disponível em: http://bit.ly/2W3ZnaH. Acesso em: 17 abr. 2019.
FERNANDES, Leocadio. Das 92 vagas do Mais Médicos em áreas indígenas, apenas quatro estão ocupadas. Brasil 247, 20 jan. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2IJhrn9. Acesso em: 17 abr. 2019.
FERNANDES, Vanessa. Liderança Indígena afirma que garimpeiro foi morto à flechada em conflito na Terra Yanomami em Roraima. G1 RR, 03 mar. 2021. Disponível em: https://glo.bo/2SZlhim. Acesso em: 02 jun. 2021.
FIGUEROA, Marcelo. Etnocídio Yanomami e Ecocídio Amazônico. L´Osservatore Romano, republicado por Combate Racismo Ambiental, 31 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3ZkPVjs. Acesso em: 13 fev. 2023.
FUHRMAN, Leonardo. Início de ano tem oito terras indígenas sob ataque. Brasil de Fato, 22 jan. 2019. De olho nos ruralistas, 22 jan. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2IXS6Ft. Acesso em: 25 abr. 2019.
FUNAI contra reativação do garimpo em Roraima. O Estado de São Paulo, republicado por Instituto Socioambiental, 18 maio 1979. Disponível em: http://twixar.me/J7YK. Acesso em: 21 abr. 2019.
FUNAI ignora ameaças a indígenas na Terra Yanomami. ClimaInfo, republicado por Combate Racismo Ambiental, 13 abr. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3xr22A. Acesso em: 13 abr. 2022.
GARIMPEIROS atacam base do ICMBio que dá acesso à Terra Indígena Yanomami. G1 RR, 01 jun. 2021. Disponível em: https://glo.bo/3plXTrC. Acesso em: 02 jun. 2021.
GARIMPO ameaça índios novamente. O Estado de São Paulo, republicado por Instituto Socioambiental, 10 nov. 1976. Disponível em: http://twixar.me/8VYK. Acesso em: 21 abr. 2019.
GENOCÍDIO: grupos judeus comparam crise Yanomami ao Holocausto. ClimaInfo, 30 jan. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3KxV8Qs. Acesso em: 16 fev. 2023.
GOMES, Adilson. Massacre Haximu: O julgamento do crime de genocídio no Brasil. JusBrasil, 2018. Disponível em: https://bit.ly/3OKclIz. Acesso em: 30 maio 2023.
GONÇALVES, Eduardo. Entenda o dilema das autoridades sobre destino de garimpeiros: prisões poderão ser feitas hoje em terra Yanomami. O Globo, 09 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3SA2Snl. Acesso em: 13 fev. 2023.
GUEDES, Octavio. Crianças Yanomami são retiradas dos pais e encaminhadas para adoção, denuncia conselho. G1, 30 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3ExPdY7. Acesso em: 13 fev. 2023.
GUIMARÃES, Hellen. Fiocruz identifica determinantes socioambientais da desnutrição infantil em terra Yanomami. Agência Fiocruz de Notícias, 02 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3ECLzfk. Acesso em: 15 fev. 2023.
GULLANE ENTRETENIMENTO. A última floresta – trailer oficial. Youtube: Canal Gullane Entretenimento, 1º mar. 2021. Disponível em: https://bit.ly/3fMk1bq. Acesso em: 02 jun. 2021.
HARARI, Isabel; HOFMEISTER, Naira. Novo coordenador de indígenas isolados da Funai boicotou provas para registro de povo no Pará. Repórter Brasil, 22 jul. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3xrFeiQ. Acesso em: 15 fev. 2023.
HECK, Egon. Ex-presidente da Funai cai do cavalo. Instituto Humanitas Unisinos, 02 jun. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2DwOfM6. Acesso em: 17 abr. 2019.
HUTUKARA ASSOCIAÇÃO YANOMAMI. Ofício: Conflito armado de garimpeiros contra indígenas no Palimiu. Boa Vista, 10 maio 2021. Disponível em: https://bit.ly/3fZvnaW. Acesso em: 31 maio 2021.
______. Yanomami sob ataque: Garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami e propostas para combatê-lo. Mar. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3M2kBPG. Acesso em: 13 abr. 2022.
HUTUKARA ASSOCIAÇÃO YANOMAMI; ASSOCIAÇÃO WANASSEDUUME YE’KWANA. Cicatrizes na Floresta – Evolução do garimpo ilegal na Terra Indígena Yanomami (TIY) em 2020. Instituto Socioambiental, 2021. 52p. Disponível em: https://bit.ly/2T2wlM0. Acesso em: 31 maio 2021.
IANOMÂMIS: membros de comissão esperam tratamento digno a indígenas e garimpeiros. Agência Senado, 15 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3xZmVlz. Acesso em: 22 fev. 2023.
INDÍGENAS querem restringir entrada de senador “dinheiro na cueca” na Terra Yanomami. ClimaInfo, republicado por Combate Racismo Ambiental, 27 fev. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3Y9TZ55. Acesso em: 28 fev. 2023.
INDÍGENAS temem que fuga de garimpeiros da Terra Yanomami resulte em invasões de outros territórios. ClimaInfo, 09 fev. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3KERggC. Acesso em: 13 fev. 2023.
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. A mensagem do Xamã l #ForaGarimpo #ForaCovid. Youtube: Canal ISA, 2021 (2min15s). Disponível em: https://bit.ly/3vRaC7Z. Acesso em: 02 jun. 2021.
INSTITUTO SOCIOAMBIENTAL. REDE PRÓ YANOMAMI E YE’KWANA. Xawara: rastros da covid-19 na terra indígena yanomami e a omissão do estado. 1ª ed. São Paulo: ISA, 2020. Disponível em: https://bit.ly/3cz5LRB. Acesso em: 02 jun. 2021.
JOVEM indígena é morto a tiros após ataque de garimpeiros na Terra Yanomami, diz Associação. G1, RR, republicado por Combate Racismo Ambiental, 18 dez. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3Er8NoI. Acesso em: 13 fev. 2023.
JUCÁ, Beatriz. A bomba-relógio das demarcações indígenas no Governo Bolsonaro. El País, 22 nov. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2vjNvFF. Acesso em: 17 abr. 2019.
KLOSTER, Ligia. CNDH e DPU realizam oitiva com associações Yanomami e estabelecem medidas emergenciais para salvar vidas. Conselho Indigenista Missionário, Norte I, 1º fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3Zks43c. Acesso em: 15 fev. 2023.
LABOISSIÈRE, Paula. CNJ vai apurar atuação da Justiça Federal em terra yanomami. Agência Brasil, 11 fev. 2023. Disponível em: https://l1nq.com/E7AYF. Acesso em: 22 fev. 2023.
LEI Arouca: a Funasa nos 10 anos de saúde indígena. Fundação Nacional de Saúde: Brasília, 2009. 112 p. Disponível em: http://bit.ly/38TtmrB. Acesso em 17 abr. 2019.
LEMBRANDO o massacre de Haximu 20 anos depois: Marisa Yanomami e Leida Yanomami, sobreviventes do massacre de Haximu em 1993, falam sobre suas lembranças penosas. Survival Internacional, s/d. Disponível em: http://bit.ly/2PrhMvz. Acesso em: 17 abr. 2019.
LÍDER indígena diz que yanomamis foram encontrados. Nexo Jornal, 06 maio 2022. Disponível em: https://bit.ly/38bkcfw. Acesso em: 06 maio 2022.
LIDERANÇAS indígenas de Roraima apontam novos desafios e reivindicam implementação de políticas públicas específicas e diferenciadas. Conselho Indigenista Missionário, republicado por Combate Racismo Ambiental, 17 mar. 2016. Disponível em: http://twixar.me/c1PK . Acesso em: 17 abr. 2019.
LIDERANÇAS indígenas pedem afastamento de senadores de comissão da crise Yanomami. G1, RR, 19 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3SFxHqI. Acesso em: 27 fev. 2023.
LONGO, Ivan. Após 9 dias, Damares se pronuncia sobre estupro de menina yanomami: “Lamento, acontece todo dia”. Revista Fórum, 05 abr. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3vPSttE. Acesso em: 06 maio 2022.
LUPI, Carlos Alberto. Brasil será pressionado na ONU para proteger os índios. Folha de São Paulo, 23 mar. 1980. Disponível em: http://twixar.me/X3PK. Acesso em: 21 abr. 2019.
MACHADO, Ricardo. Garimpo ilegal e coronavírus na Terra Yanomami deixam milhares de indígenas à própria sorte. Entrevista especial com Dário Kopenawa. Instituto Humanitas Unisinos, 03 jul. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3uJcFd2. Acesso em: 01 jun. 2021.
______. O catálogo de tragédias dos Yanomami na voz de Davi Kopenawa. Entrevista especial com Julie Dorrico. Instituto Humanitas Unisinos (IHU), 19 abr. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2vn3QJz. Acesso em: 17 abr. 2019.
______. O recado da floresta à população 4.0. Instituto Humanitas Unisinos, 22 ago. 2017. Disponível em: http://bit.ly/2viJ4uR. Acesso em: 17 abr. 2019.
MAGALHÃES, Ana; CAMARGOS, Daniel, JUNQUEIRA, Diego; HYURY, Potter. ‘Garimpo ilegal zero’: nove medidas urgentes para acabar com o crime. Repórter Brasil, republicado em Combate Racismo Ambiental, 27 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3xVX8uz. Acesso em: 28 fev. 2023.
MAIS de cinco mil atendimentos médicos foram realizados em um mês no território Yanomami. Missão Yanomami, Ministério da Saúde, 20 fev. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3IVkpDc. Acesso em: 24 fev. 2023.
MALÁRIA teve crescimento recorde entre os Yanomami em 2005. Comissão Pró-Yanomami (CCPY), Boletim nº 72, 29 nov. 2005. Disponível em: http://bit.ly/2Oep46o. Acesso em: 29 jan. 2020.
MARETTI, Eduardo. Situação trágica dos Yanomami exige ações de vários ministérios, diz Nísia Trindade. Rede Brasil Atual, 26 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3XYjnKX. Acesso em: 10 fev. 2023.
MARIA, Tanair. Terras indígenas do Amazonas e Roraima são constantemente ameaçadas, diz indigenista Egydio Schwade. Jornal do Commercio, 27 jun. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2DAYcZ4. Acesso em: 17 abr. 2019.
MARIN, Nadja. Napëpë (documentário). Vimeo, 2018. Disponível em: http://bit.ly/37K9lUo. Acesso em: 29 jan. 2020.
MARQUES, Marcelo; OLIVEIRA, Valéria. GARIMPEIROS armados atacam base do Ibama na Terra Yanomami e invasor é baleado. G1 RR, republicado por Combate Racismo Ambiental, 24 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/41xQRCD. Acesso em: 27 fev. 2023.
MEDEIROS, Fernando. O garimpo noturno na TI Yanomami. Amazônia Real, republicada por Instituto Humanitas Unisinos, 11 abr. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3p5Snxq. Acesso em: 01 maio 2023.
MEDICINA tradicional Yanomami ganha o mundo. Instituto Socioambiental, republicado por Combate Racismo Ambiental, 14 set. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2XH7073 . Acesso em: 17 abr. 2019.
MÉDICO mostra cegueira nos índios e pede bloqueio da colonização amazônica. Estado de Minas, 30 jul. 1980. Disponível em: http://twixar.me/WKPK. Acesso em: 21 abr. 2019.
MENESES, Celimar. Guajajara: 570 crianças yanomamis morreram de fome nos últimos 4 anos. Metrópoles, 21 jan. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3LObTan. Acesso em: 01 maio 2023.
MENINA indígena é morta e aldeia queimada na Terra Indígena Yanomami, segundo denúncias. ANDES, 04 maio 2022. Disponível em: https://bit.ly/3P5ysan. Acesso em: 06 maio 2022.
MILANEZ, Felipe. Relatora da ONU critica governo interino e alerta para etnocídio. Carta Capital, 17 maio 2016. Disponível em: http://bit.ly/2L0DgAU http://bit.ly/2L0DgAU. Acesso em: 17 abr. 2019.
MINERAÇÃO na Amazônia Legal e áreas protegidas. Situações dos direitos minerários e sobreposições. WWF, out. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2PrXKRA. Acesso em: 19 abr. 2019.
MINISTRO manda parar garimpagem em zona indígena. Jornal do Brasil, republicado por Instituto Socioambiental, 03 set. 1976. Disponível em: http://twixar.me/yVYK. Acesso em: 21 abr. 2019.
MIOTTO, Tiago. Pelo menos seis terras indígenas sofrem com invasões e ameaças de invasão no início de 2019. Comissão Pastoral da Terra (CPT), 23 jan. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2IIKC9W. Acesso em: 25 abr. 2019.
MISSÃO inédita: Ministério da Saúde envia equipes para elaborar diagnóstico sobre território Yanomami. Ministério da Saúde, DF, republicado por Combate Racismo Ambiental, 18 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3KqQ3JT. Acesso em: 22 fev. 2023.
MONTEL, Ana Lucia. Corpos de crianças Yanomami sugadas por draga de garimpo são encontrados. Amazônia Real, 15 out. 2021. Disponível em: https://bit.ly/3viAuKX. Acesso em: 13 abr. 2022.
MORI, Letícia. A fotógrafa sobrevivente do Holocausto que há mais de 50 anos luta contra massacres dos yanomami. BBC News Brasil, São Paulo, 08 dez. 2015. Disponível em: https://bit.ly/45Bdd8z. Acesso em: 30 maio 2023.
MPF consegue liminar para reinstalação de bases de proteção etnoambiental da TI Yanomami. Procuradoria da República em Roraima, 21 nov. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2Puoi4t. Acesso em: 19 abr. 2019.
MPF propõe ação para reativar bases de proteção etnoambiental da terra Yanomami. Ministério Público Federal, 03 out. 2017. Disponível em: http://bit.ly/2PqaXKu. Acesso em: 17 abr. 2019.
MPF recomenda à Agência Nacional de Mineração que prorrogue prazo de consulta pública sobre exploração mineral de ouro. Procuradoria da República no Amazonas, republicada por Combate Racismo Ambiental, 04 dez. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2PuJOGd. Acesso em: 19 abr. 2019.
MPF detalha esquema de garimpo ilegal na Terra Yanomami. ClimaInfo, republicado por Combate Racismo Ambiental, 09 dez. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3Ku4UDa. Acesso em: 13 fev. 2023.
MPF/RR entrega ao povo Yanomami nova remessa de sangue repatriada dos Estados Unidos. Ministério Público Federal, republicado por Combate Racismo Ambiental, 19 abr. 2016. Disponível em: https://bit.ly/3i6uFLY. Acesso em: 17 abr. 2019.
MWANGI, Mary Agnes. Thuë thëpë patamuwi thëã oni – Mulheres Yanomami realizam seu 11º Encontro em Watoriki/Demini. Cimi Norte 1, 12 nov. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2vkaSPh. Acesso em: 19 abr. 2019.
NASCIMENTO, Luciano. Yanomamis liberam servidores retidos em Roraima após morte de dois bebês. Agência Brasil, 19 set. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2vnrHc0. Acesso em: 19 abr. 2019.
NOTA Pública: Câmara de Meio Ambiente do MPF reitera compromisso no combate ao garimpo ilegal na Terra Yanomami. Combate Racismo Ambiental, 26 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3IPBHl2. Acesso em: 13 fev. 2023.
NOVA epidemia de malária entre os Yanomami, antigos sofismas na Funasa. Urihi Saúde Yanomami, 21 fev. 2006. Disponível em: http://bit.ly/38WT7Hs. Acesso em: 31 jan. 2020.
NOVAS fotos incríveis de tribo isolada na Amazônia – que pode ser exterminada. Survival Internacional, 17 nov. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2vld8WE. Acesso em: 17 abr. 2019.
NOVAS imagens expõem crianças com desnutrição severa na Terra Yanomami. G1 Roraima e Globo News, Boa Vista, 09 dez. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3In96SO. Acesso em: 06 fev. 2023.
OHANA, Victor. Menina ianomâmi morre após ser estuprada por garimpeiros, denunciam indígenas. Carta Capital, 26 abr. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3OYsGY5. Acesso em: 06 maio 2022.
OLIVEIRA, Valéria. Conselho de saúde indígena relata em ofício mortes de crianças Yanomami com sintomas de Covid em Roraima. G1 RR, 28 jan. 2021. Disponível em: https://glo.bo/3psSfnB. Acesso em: 02 jun. 2021.
______. Pesquisa revela nível alto de mercúrio em índios de área Yanomami em RR. G1, 04 mar. 2016. Disponível em: https://glo.bo/3i0Fuz0. Acesso em: 17 abr. 2019.
______. Mulheres Yanomami pedem que Lula acabe com garimpos na reserva indígena: ‘Não queremos ficar chorando porque as pessoas morrem’. G1 RR. 13 dez. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3Im01cM. Acesso em: 10 fev. 2023.
______. Yanomami morre com tiro na cabeça e outros dois ficam feridos em ataque em comunidade indígena. G1, RR, republicado por Combate Racismo Ambiental, 30 mar. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3ntN1vq. Acesso em: 03 maio 2023.
ONU Brasil pede maior proteção para o povo Yanomami. Combate Racismo Ambiental, 08 maio 2022. Disponível em: http://bit.ly/3IoxFQo. Acesso em: 06 fev. 2023.
OPERAÇÃO Curaretinga combate garimpo ilegal de ouro na terra indígena Yanomami, em RR. Ibama, republicado por Combate Racismo Ambiental, 14 abr. 2017. Disponível em: http://bit.ly/37LZMV4. Acesso em: 17 abr. 2019.
ORGANIZAÇÕES acusam secretário de Segurança de Roraima de vazar operação contra garimpeiros na Terra Indígena Yanomami. G1, RR, republicado por Combate Racismo Ambiental, 17 dez. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3XO2VwN. Acesso em: 10 fev. 2023.
ORGANIZAÇÕES, conselheiros, lideranças indígenas e profissionais de saúde dos distritos sanitários especiais indígenas yanomami e leste de Roraima. Carta Final da I Assembleia Geral Extraordinária dos Povos Indígenas de Roraima sobre Saúde Indígena. Republicado por Combate Racismo Ambiental, 01 nov. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2Pr2LtH. Acesso em: 17 abr. 2019.
ORGANIZAÇÕES denunciam à ONU violações de direitos dos povos originários no Brasil, agravadas nos últimos quatro anos. Conselho Indigenista Missionário, republicado por Combate Racismo Ambiental, 28 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3kBfOg2. Acesso em: 28 fev. 2023.
OPERAÇÃO da PRF em terra yanomami deixa 4 garimpeiros mortos. Poder 360, 01 maio 2023. Disponível em: https://bit.ly/42n7Yae. Acesso em: 03 maio 2023.
OURO do sangue Yanomami [série de reportagens]. Amazônia Real e Repórter Brasil, 24 jun. de 2021. Disponível em: https://bit.ly/3veSwxM. Acesso em: 13 abr. 2022.
OURO: Uma ameaça aos Ianomamis. Folha de São Paulo, 09 nov. 1980. Disponível em: http://twixar.me/gKPK. Acesso em: 21 abr. 2019.
PACHECO, Ronilson. Missões evangelizadoras têm que entrar no rol de investigados pelo genocídio Yanomami. The Intercept Brasil, 10 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3SAhumt. Acesso em: 15 fev. 2023.
PAIXÃO, Evilene; VALENTE, Rubens. “GARIMPEIRO que não sair da terra Yanomami vai ser preso”, diz Sonia Guajajara. Agência Pública, republicado por Combate Racismo Ambiental, 09 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3KG9DSj. Acesso em: 13 fev. 2023.
PAJOLLA, Murilo. Bolsonaro estimulou avanço de garimpeiros sobre os Yanomami; relembre casos e declarações. Brasil de Fato, 06 maio 2022. Disponível em: https://bit.ly/3c5j1Qq. Acesso em: 11 jul.2022.
______. Garimpo ilegal leva fome, doença e exploração sexual para território Yanomami. Brasil de Fato, republicado por Combate Racismo Ambiental, 12 abr.2022. Disponível em: https://bit.ly/3vedz3z. Acesso em: 13 abr. 2022.
______. Associação Hutukara revela novos casos de brutalidade em aldeia Yanomami onde PF descartou denúncia (+Nota Pública). Brasil de Fato, republicado por Combate Racismo Ambiental, 07 maio 2022. Disponível em: http://bit.ly/3I35uVA. Acesso em: 06 fev. 2023.
______. Governo boicotou fiscalização contra garimpo em terras Yanomami, diz entidade de servidores. Brasil de Fato, republicada em Combate Racismo Ambiental, 09 maio 2022. Disponível em: http://bit.ly/3Xy5XFb. Acesso em: 07 fev. 2023.
______. Nove crianças Yanomami morrem por falta de atendimento em dois meses, diz associação. Brasil de Fato, republicado no Combate Racismo Ambiental, 01 out. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3S1SO6f. Acesso em: 10 fev. 2023.
______. ‘Parem de mentir!’: líder Yanomami, Dário Kopenawa critica militares e rebate bolsonaristas. Brasil de Fato, republicado por Combate Racismo Ambiental. 02 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3Y1jGo2. Acesso em: 16 fev. 2023.
______. Senador amigo de Bolsonaro é ligado a empresa acusada de desvio de medicamentos dos Yanomami. Brasil de Fato, Lábrea, AM, 03 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3kydgiQ. Acesso em: 22 fev. 2023.
PARA Wellington Dias, falta de assistência e saúde aos Yanomami parece intencional. Rede Brasil Atual, republicado por Combate Racismo Ambiental, 25 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3Snmgno. Acesso em: 13 fev. 2023.
PAUSA no acampamento para curar feridas e preparar segundo trecho da expedição. Instituto Socioambiental, 26 set. 2013. Disponível em: http://bit.ly/2u7hJhZ. Acesso em: 21 abr. 2019.
PECINATO, Beatriz. Garimpo ilegal: 16 pessoas são presas com 6 toneladas de minério na TI Yanomami. Jornalistas Livres, republicado por Combate Racismo Ambiental, 14 out. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3YC7JX0. Acesso em: 08 fev. 2023.
PERES, Edis Henrique. Ministra da Saúde se reúne com presidente da CUFA para planos de combate à crise humanitária no Território Yanomami. Ministério da Saúde, 15 fev. 2023. Disponível em: https://bit.ly/41vHSC3. Acesso em: 26 fev. 2023.
PIMENTEL, Carolina. Relatos apontam 30 casos de jovens yanomami grávidas de garimpeiros. Agência Brasil, republicado por Combate Racismo Ambiental, 03 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/41qrUcu. Acesso em: 15 fev. 2023.
POLÍCIA Federal inicia Operação Libertação para combater garimpo ilegal em terras Yanomami. Coordenação-Geral de Comunicação Social da PF, 10 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3Zhf66w. Acesso em: 27 fev. 2023.
POLÍCIA Federal prende em Roraima garimpeiro condenado por genocídio contra os Yanomami. Folhapress, 15 nov. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2Puo8tT. Acesso em: 19 abr. 2019.
POLÍCIA Federal deflagra operação contra grupo investigado por extração e venda ilegal de minérios da Terra Yanomami. G1, Roraima, RR, 19 maio. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3lrqwpk. Acesso em: 14 fev. 2023.
POLÍCIA Federal abre inquérito para apurar genocídio do povo Yanomami e Bolsonaro pode ser implicado. Brasil de Fato, SP, 25 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3XVgjz8. Acesso em: 08 fev. 2023.
PONTES, Nádia. “O Ibama voltou”, diz chefe da proteção ambiental do órgão. Made for minds. Disponível em: http://bit.ly/3IYgQfC. Acesso em: 26 fev. 2023.
POVO Yanomami denuncia à ONU contaminação por mercúrio durante visita ao MPF. Ministério Público Federal, 08 mar. 2016. Disponível em: http://twixar.me/Y1PK. Acesso em: 17 abr. 2019.
POVOS indígenas de Roraima analisam conjuntura atual da saúde indígena durante a I Assembleia Extraordinária. Conselho Indígena de Roraima, 31 out. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2GvHQ4s. Acesso em: 17 abr. 2019.
POVOS indígenas de Roraima organizam Assembleia Extraordinária sobre Saúde Indígena. Conselho Indígena de Roraima, republicado por Instituto Socioambiental, 28 out. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2Pr1ClT. Acesso em: 17 abr. 2019.
PROGRAMA Calha Norte. Ministério da Defesa, Brasília, DF, S/I. Disponível em: https://bit.ly/3ovqqza. Acesso em: 30 maio 2023.
QUASE 100 crianças morreram na Terra Indígena Yanomami em 2022, diz Ministério dos Povos Indígenas. G1, Boa Vista- RR, 21 jan. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3SmOdvu. Acesso em: 13 fev. 2023.
QUASE 100 crianças yanomami morreram em 2022, segundo Ministério dos Povos Indígenas. Carta Capital, 21 jan. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3VI0oox. Acesso em: 01 maio 2023.
RAMALHO, Moisés. Os Yanomami e a morte. Tese (Doutorado em Antropologia Social) – Programa de Pós-Graduação em Antropologia Social da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008, 168p.
RAMALHO, Yara; OLIVEIRA, Valéria. Governador de Roraima sanciona lei que proíbe destruição de equipamentos de garimpeiros. G1, Boa Vista, RR, 05 jul. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3YAdKU8. Acesso em: 15 fev. 2023.
RIBEIRO, Maria Fernanda; FARIAS, Elaíze. Garimpo na Terra Yanomami põe em risco indígenas isolados. Amazônia Real, 25 mar. 2021. Disponível em: https://bit.ly/3fHfMhz. Acesso em: 31 maio 2021.
RIBEIRO, Maria Fernanda. MPF investigará ligação de funcionária da Sesai com o garimpo ilegal. Amazônia Real, 29 jun. 2021. Disponível em: https://bit.ly/3KMF7Ui. Acesso em: 13 abr. 2022.
RODRIGUES, Alex. Secretário de Saúde Indígena defende retirada de garimpeiros da Terra Yanomami. Agência Brasil, 24 jan. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3ZbEUAM. Acesso em: 08 fev. 2023.
______. Equipes enviadas a território yanomami sofrem ameaças. Agência Brasil, republicado por Combate Racismo Ambiental, 31 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3YZ3TYo. Acesso em: 15 fev. 2023.
______. Ibama cria sala de combate ao garimpo ilegal em terra Yanomami. Agência Brasil, 02 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3lSP4Yz. Acesso em: 15 fev. 2023.
ROMAN, Clara. CAMPEÃ de requerimentos minerários, Terra Indígena Yanomami sofre com explosão do garimpo. Instituto Socioambiental, 21 mar. 2019. Disponível em: http://bit.ly/2IVnYdL. Acesso em: 25 abr. 2019.
RORAIMA oferece suas terras, de graça. O Estado de São Paulo, 22 abr. 1981. Disponível em: http://twixar.me/5KPK. Acesso em: 21 abr. 2019.
RUFINO, Samantha. Líder indígena morre e adolescente fica ferido após ataque a tiros de garimpeiros na TI Yanomami. G1, Roraima, republicado por Combate Racismo Ambiental, 05 out. 2022. Disponível em: http://bit.ly/40ZOnwI. Acesso em: 08 fev. 2023.
RUPP, Isadora. O que é o narcogarimpo. E como ele atinge os indígenas. Nexo Jornal, 12 abr. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3JHB7mr. Acesso em: 13 abr. 2022.
SANTOS, Izabel. Malária potencializa risco de morte por Covid-19 entre os Yanomami. Amazônia Real, 08 set. 2020. Disponível em: https://bit.ly/34Ecmpq. Acesso em: 31 maio 2021.
______. PF faz operação, mas garimpeiro acusado de matar dois Yanomami continua foragido. Amazônia Real, 29 out. 2020. Disponível em: https://bit.ly/3c86hWr. Acesso em: 31 maio 2021.
SANTOS, João Vitor. Os desafios de reconhecer o índio como agente ativo na História. Entrevista especial com Maria Cristina dos Santos, Instituto Humanitas Unisinos, 22 ago. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2PtiUyP. Acesso em: 19 abr. 2019.
SASSINE, Vinícius. Empresário bolsonarista é denunciado sob suspeita de chefiar garimpo em área yanomami. Folha, republicado por Combate Racismo Ambiental, 03 dez. 2022. Disponível em: http://bit.ly/4147CFq. Acesso em: 08 fev. 2023.
SAÚDE yanomami volta a ser responsabilidade direta da Funasa. Comissão Pró-Yanomami, Boletim nº 51, 09 jul. 2004. Disponível em: http://bit.ly/2Uaui6Y. Acesso em: 31 jan. 2020.
SCHUQUEL, Thayná. Tragédia Yanomami: Lula exonera 10 coordenadores de saúde indígena. Metrópoles, 23 jan. 2023. Disponível em: http://bit.ly/41nnAKT. Acesso em: 10 fev. 2023.
SERVIDORES da Funai alertam para precariedade de trabalho e esvaziamento da fundação. Agência Câmara de Notícias, 26 ago. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3HXoftI. Acesso em: 15 fev. 2023.
SILVA, C. S. P. Os Yawaripe Yanomami e a instrusão da Perimetral Norte: conflito entre materialidade técnica e proliferação de híbrido no território. 39° Encontro Anual da Anpocs, Unicamp, São Paulo, s/i. Disponível em: https://bit.ly/3NFgEEN. Acesso em: 03 maio 2023.
SOB CONTROLE a epidemia que matou 68 índios. Folha de São Paulo, republicado por Instituto Socioambiental, 18 maio 1977. Disponível em: https://bit.ly/3vBYKqA. Acesso em: 21 abr. 2019.
SOUZA, Janaina. El Niño Godzilla: Fogo invade terras indígenas em Roraima. Amazônia Real, 04 mar. 2016. Disponível em: http://twixar.me/J1PK. Acesso em: 17 abr. 2019.
SPEZIA, Adi. À ONU, líder Yanomami denuncia invasão do garimpo, estupro, doenças e a morte de 570 crianças indígenas. Conselho Indigenista Missionário, 31 mar. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3NvQELX. Acesso em: 03 maio 2023.
STF determina apuração de crimes contra comunidades indígenas e reitera ordem de expulsão definitiva de garimpeiros. Supremo Tribunal Federal, 30 jan. 2023. Disponível em: https://bit.ly/420ezYg. Acesso em: 02 maio 2023.
TERRA, Marina. O futuro é indígena na terra-floresta Yanomami. Instituto Socioambiental, republicado por Combate Racismo Ambiental, 04 jun. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3XsPSQZ. Acesso em: 08 fev. 2023.
TERRA Yanomami completa 30 anos cercada pelo garimpo. Folha de São Paulo, republicado por Combate Racismo Ambiental, 26 maio 2022. Disponível em: http://bit.ly/3jWRDIF. Acesso em: 07 fev. 2023.
TRÊS indígenas Yanomami são assassinados por garimpeiros em comunidade, afirma liderança. G1, RR, republicado por Combate Racismo Ambiental, 06 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3ZptVni. Acesso em: 15 fev. 2023.
URIHI comunica fim da parceria com a Funasa. Manchetes Socioambientais, 18 fev. 2004. Republicado por Comissão Pró Yanomami (CCPY). Disponível em: http://bit.ly/37UwYtD. Acesso em: 29 jan. 2020.
VALENTE, Rubens. “Só comparável à África Subsaariana”: um terço das crianças Yanomami têm déficit de peso. Agência Pública, 24 jan. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3Ij0Pis. Acesso em: 13 fev. 2023.
______. Militares usam só dois helicópteros em apoio a TI Yanomami, alertam defensores públicos. Agência Pública, 31 jan. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3Y0gJ7t. Acesso em: 13 fev. 2023.
______. Senadores querem perdão criminal para garimpeiros na terra Yanomami, revela ofício. Agência Pública, 27 fev. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3Z9Bmzd. Acesso em: 28 fev. 2023.
VALENTE, Rubens; PAIXÃO, Evilene. Operação do Ibama na terra Yanomami demonstra que garimpeiros persistem na invasão. Agência Pública, republicado por Combate Racismo Ambiental, 08 fev. 2023. Disponível em: http://bit.ly/3Svw4eS. Acesso em: 13 fev. 2023.
______. Os Yanomami continuam morrendo: emergência completou 1 mês, longe de acabar. Agência Pública, 23 fev. 2023. Disponível em: https://bit.ly/3YWTcWd. Acesso em: 24 fev. 2023.
VASCONCELLOS, A. C. S. et al. Avaliação de Risco à Saúde Atribuível ao Consumo de Pescado Contaminado por Metilmercúrio na Bacia do Rio Branco, Roraima, Amazônia, Brasil. Nota Técnica. Fundação Oswaldo Cruz, s/i. Disponível em: https://bit.ly/3Vu9vZv. Acesso em: 01 maio 2023.
VAZ, Antenor. Povos Indígenas e de Recente Contato no Brasil. Biblioteca da Funai, Brasília, abr. 2013. Disponível em: http://bit.ly/31fxWhw. Acesso em: 21 jan. 2020.
VIEIRA, Marina. Yanomami e Ye’kwana avançam em estratégias sobre uso do dinheiro e proteção territorial. Instituto Socioambiental, 27 set. 2016. Disponível em: http://bit.ly/2viEUmJ. Acesso em: 17 abr. 2019.
VILELA, Pedro Rafael. Índios Yanomami impedem a saída de profissionais de saúde em aldeia. Agência Brasil, 18 set. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2PscRdL. Acesso em: 19 abr. 2019.
WAPICHANA, Mayra. 47ª Assembleia Geral dos Povos Indígenas de Roraima: Consulta livre, prévia e informada e de defesa dos direitos indígenas. Conselho Indígena de Roraima, 12 abr. 2018. Disponível em: http://bit.ly/2vmYeyZ. Acesso em: 17 abr. 2019.
YANOMAMI avaliam em conferência que atendimento à saúde continua insatisfatório. Instituto Socioambiental, 11 out. 2013. Disponível em: http://twixar.me/D1PK. Acesso em: 18 abr. 2019.
YANOMAMI de 12 anos é estuprada e morta por garimpeiros, diz liderança. Nexo Jornal, 26 abr. 2022. Disponível em: https://bit.ly/3LQTCXy. Acesso em: 06 maio 2022.
YANOMAMI temem paralisação na assistência em saúde. Comissão Pró-Yanomami (CCPY), 04 fev. 2004. Disponível em: http://bit.ly/3191VHE. Acesso em: 31 jan. 2020.
YANOMAMI, Dário Vitorino Kopenawa. Esclarecimentos da Hutukara Associação Yanomami sobre epidemia de sarampo na Venezuela. Hutukara Associação Yanomami, Boa Vista (RR), republicado por Combate Racismo Ambiental, 24 jul. 2018. Disponível em: https://bit.ly/34vFK0U. Acesso em: 17 abr. 2019.
______. Bolsonaro despejou os garimpeiros em nossas terras. Sumaúma, 13 set. 2022. Disponível em: http://bit.ly/3YzVr1p. Acesso em: 15 fev. 2023.
YANOMAMI, tribo condenada à morte. O Estado de São Paulo, republicado por Instituto Socioambiental, 31 maio 1979. Disponível em: http://twixar.me/G3PK. Acesso em: 21 abr. 2019.
YANOMAMIS se reunirão para discutir criação de parque. Folha de São Paulo, 13 mar. 1986. Disponível em: http://twixar.me/FnPK. Acesso em: 21 abr. 2019.
